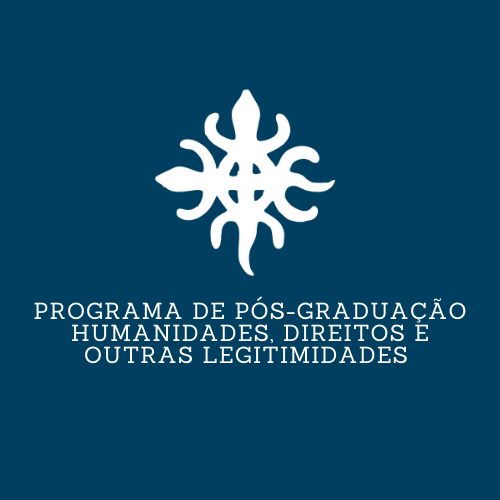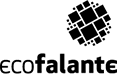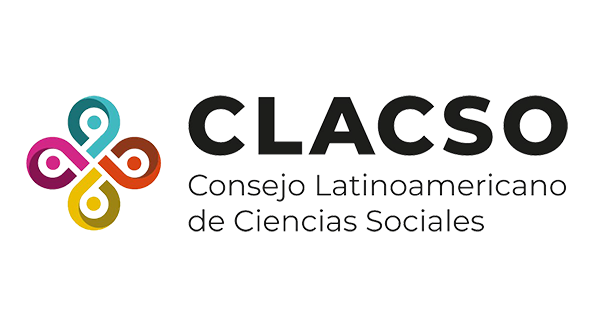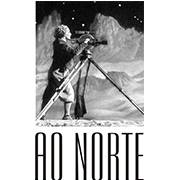Silvanir Marcelino de Miranda
I - Vale do Mucuri
Entre o Norte e o Leste de Minas Gerais, quatro importantes rios diferenciam paisagens, cultivos, meios e modos de vida. O maior deles, o Jequitinhonha, nasce na Serra do Espinhaço, entre as cidades de Serro e Diamantina, e deságua no Atlântico, na Bahia, ao norte de Porto Seguro. Outro rio de grande importância é o rio Doce, a leste de Minas Gerais, que, ao ser conhecido e dominado, levou para seus vales e afluentes o fazendeiro, o confronto com os "botocudos" e a exploração de minérios. Entre esses dois grandes rios, no centro da região, a sudeste de Diamantina, nascem os rios Mucuri e Todos os Santos. Este corta a cidade de Teófilo Otoni e o outro a vila Mucuri, 30 km ao norte, e depois se juntam e avançam para o Atlântico, ao sul de Porto Seguro. Poucos quilômetros ao sul da nascente do rio Todos os Santos, nasce o rio São Mateus, cujo vale é o menor e que ruma para o Atlântico pelo Espírito Santo. Destes quatro rios mineiros, dois, o Jequitinhonha e o Mucuri, ligam Minas Gerais e Bahia e dois, São Mateus e Doce, ligam Minas Gerais e Espírito Santo.
A ocupação e a exploração da região tiveram como núcleo originário a região da nascente do rio Jequitinhonha, em Diamantina, no século XVIII, por causa da mineração. Com a crise dessa atividade econômica, no final do século, expurgos de populações - pobres e ricas - forçaram uma ocupação lenta no sentido oeste, pelo Jequitinhonha e seus afluentes, guiados por "descobertos" de ouro e cursos de rios e pela fartura em pedras preciosas, mata, água e terra fértil. Riquezas exploradas pelo trabalho alheio subjugado, do índio, do agregado, do posseiro, somado à sabedoria popular na busca pela sobrevivência, tirada do enfrentamento do homem com uma natureza que não foi generosa em toda parte (Ribeiro, 1997b:29/31).
De várias direções, a partir de meados do XIX, começavam a surgir interesses que visavam a ocupação e colonização da grande região de mata inexplorada do nordeste de Minas Gerais, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Somados aos esforços do Governo Imperial em pacificar índios, da Igreja Católica em catequizá-los, desencadeou-se uma ocupação basicamente de exploração, que encontrou nas "roças" (já postas pelos camponeses) uma importância vital pelo valor de trabalho agregado que elas possuíam. Elas passaram, então, a serem incorporadas pelo capital e, nesse processo, as famílias fundadoras das "roças" foram forçadas a migrar em várias direções, dentro do próprio Vale, por mais de um século, saindo sazonal ou definitivamente. A história do posseiro brasileiro repete-se no Mucuri. Uma história marcada pela perda da terra após a abertura da mata. Um processo, como ressalta Ribeiro, que entrelaça a questão produtiva e a questão fundiária (Ribeiro, 1997a).
O predomínio do poder do fazendeiro sobre a terra e pessoas compunha-se de uma soma de elementos que lhe possibilitou acumular uma riqueza desvinculada do seu trabalho e vinculada ao trabalho alheio - à força de trabalho de homens, mulheres e crianças, brancos, negros e índios. Imagens daquele mundo fronteiriço, entre a tribo e a roça da fazenda, aparecem na lembrança de agregados que vivenciaram, na infância, os limites entre o mundo farto das roças e da mata, cada vez menos acolhedora e protetora para o indígena. Grupos indígenas peregrinavam errantes e famintos, com seus filhos às costas, em busca de comida.
Apareciam lá uns índios... às vezes... a gente estava trabalhando na roça... eles chegavam à beira da roça, se tivesse uma coisinha eles pediam. Uma mandioquinha, às vezes um milho verde... eles saíam roendo... só que eram meio desconfiados com a gente, eram meio bravos. Mas eles já estavam começando a chegar. Passavam homem, mulher, menino. Aí a mata foi abrindo, aí também eles sumiram (Idem:66).
A abertura e exploração da mata absorveu tudo que ela continha. Durante o século XIX e parte do XX, a roça era cercada "pramode de paca, caititu e tatu não comer. O bichinho criava aí, ninguém matava eles não, porque tinha fartura, não tinha precisão" (Idem). Aos poucos, entretanto, a cerca de arame farpado foi cercando as roças. Fazendas cercavam suas terras. A partir de 1930, nova rearticulação no ritmo e nos negócios da fazenda levou fazendeiros a encontrar na pecuária a forma de integrar a propriedade rural ao mercado mais amplo. A pequena propriedade fica condenada a desaparecer e, o pequeno proprietário, o parceiro, o agregado, o posseiro e o índio são os sujeitos desenraizados nesse processo de concentração fundiária. Embrenharam-se nos veios migratórios direcionados para diferentes regiões do país.
II - Migrações, Proletarização e Trabalho Infantil
A partir dos anos 1940, com a construção da BR-116, que integrou a região ao Centro-Sul e aos estados do Nordeste, as migrações potencializaram-se e, nos anos de 1970, outro movimento do capital veio a colocar a região como alvo de interesse da agroindústria - café, laticínios e frigoríficos. O desfecho desses processos nas áreas rurais do nordeste mineiro engendrou o último êxodo rural, ainda em curso. Restaram grandes fazendeiros, e, nas cidades pequenas e médias, aposentados, funcionários públicos, trabalhadores bóias-frias e uma gama de filhos de ex-camponeses desempregados e desrespeitados em todos os direitos fundamentais. Os municípios ficaram submetidos aos complexos agroindustriais, e grande parte dos produtos de consumo e subsistência vem de fora (Miranda, Pereira e Terra, 1998:36).
Dos milhares de camponeses expulsos ou ameaçados de expulsão da terra, pequena parte voltou, milhares foram definitivamente embora e alimentam, com mão-de-obra barata, fronteiras e frentes de expansão em diferentes regiões. Nas metrópoles enfrentaram os empregos urbanos na construção civil (1970) e, finalmente, na conjuntura adversa ao emprego dos anos 1980, recorrem ao corte de cana (Gnaccarini, 1986), ou a serviços urbanos residuais e temporários nas cidades grandes, fazendo expandir o mercado informal de trabalho, o subemprego. Desde então, no nordeste mineiro as migrações rurais foram orientadas para cidades mais próximas, de mercados de trabalho mais difíceis, como Belo Horizonte, Betim, Ipatinga; cidades médias, como Teófilo Otoni, Governador Valadares; ou para as novas fronteiras, mais distantes, como Pará e Rondônia (Ribeiro, passim).
No complexo de realidades que estão contidas nas migrações ocorre a proletarização do trabalho da criança e da família. Proletarizados, muitos são aliciados por "gatos" e vão compor os "sistemas de turmas", no corte de cana e nas colheitas agrícolas além do Estado de São Paulo - Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e outros estados - em diferentes frentes de trabalho (Martins, 1998).
O trabalho é uma rotina imposta às crianças e aos adolescentes pobres desde o predomínio da economia e da cultura camponesas; entretanto, as mudanças ocorridas com a presença maciça do grande capital na região afetaram de modo irreversível as condições de trabalho e vida da população excluída da terra. Na região de Novo Cruzeiro, no Médio Jequitinhonha, inúmeras fazendas de produção de café absorvem o contingente de mão-de-obra assalariada de diversos municípios vizinhos. Um "gato" agencia, nas vilas próximas, mulheres e homens, jovens, adultos e mesmo crianças. Em meados dos anos 1990, muitos trabalhadores despendiam cerca de quatro horas por dia entre preparar o almoço de madrugada - quatro horas - e chegar ao local de trabalho entre 7 e 8 horas. A viagem de caminhão ou ônibus geralmente dura mais de uma hora. O dia de trabalho se estende até as 17 horas, seguido de outra viagem de volta e da etapa dos afazeres domésticos. Pode-se dizer que ocorrem migrações diárias entre a residência e o local de trabalho, ou semanais, para aqueles que moram em barracões durante a semana, que se estende de segunda a sábado.
III - Trabalho Infantil: Persistente e Necessário
No nordeste mineiro o trabalho infantil foi necessário às famílias camponesas e, por isso, persistente. Culturalmente aceito como natural nas relações de produção, principalmente nas atividades camponesas, em um amplo espectro de situações. Tradicionalmente ocupadas em atividades gerais da família camponesa, na medida em que foram se transformando as relações capitalistas, afetando a propriedade da terra, a expropriação camponesa significou a proletarização do trabalho de todos os membros da família.
Gerações e mais gerações de posseiros e agregados viveram no mundo das fazendas, desbravando os limites das matas. Formaram famílias numerosas, nas quais o trabalho da criança, desde mais ou menos sete anos de idade, era comum em diferentes atividades.
Eu me lembro que com 7 anos [...] eu já fazia as rocinhas. Papai roçou a terra e botou a roça e aí eu fiz do lado uma outra roça. Meus filhos também foram criados assim. Para roçar era eu. Agora, eles eram aqueles toquinhos, mas todo mundo estava de pé para auxiliar. Depois também aos poucos começou a crescer e os fazendeiros chamavam, às vezes, para trabalhar, a gente deixava ir os meninos, foi criando assim. Depois foi tudo na escola. Agora, quando estava na escola, não. Só podia trabalhar depois que chegavam da aula, Criei sete filhos, quatro era mulher. Fora sobrinhos que ia lá pra casa e criava. [...] Eu era assim, a casa cheia de gente (Ribeiro, 1997a:44).
A família de Serafim Silva Cardoso viveu cinquenta anos na mesma fazenda. Em sua memória o trabalho precoce aparece como cooperação na manutenção do núcleo familiar.
Eu falo para os meus meninos hoje: quando nós éramos crianças de 8, 10 anos, não precisava que nosso pai nos desse roupa, porque a gente saía catando café. Catava um alqueire, oitenta litros, trazia, vendia aqui e tinha dinheiro para a roupa do ano todo (Idem: 165).
Necessário e persistente, pois em situações de busca por subsistência, a família camponesa necessita do trabalho infantil. Nestes espaços, esta modalidade de trabalho era caracterizada como socialização e cultura. Este sistema tradicional prevaleceu enquanto a família camponesa do nordeste mineiro conseguiu, lá mesmo, condições para se reproduzir, mesmo migrando internamente como fazendeiros, pequenos proprietários, agregados, posseiros, parceiros, rendeiros e outros. Digamos que as migrações sazonais funcionaram como meio de manutenção da condição camponesa. Entretanto, quanto mais vulneráveis ficavam os vínculos com a terra, mais a migração acabava sendo a única opção.
Há uma diferenciação significativa no universo humano chamado de infância e uma diferenciação igualmente significativa no universo do trabalho infantil. Importante considerar que a maior é tolerada ou está oculta em relações econômicas e sociais seculares. No cômputo geral, a parte da infância e adolescência contemplada pelas políticas sociais é ínfima. No final do século XX o foco das mesmas voltou-se àquelas situações consideradas as piores formas de trabalho, segundo a Convenção 182/1999 da OIT. No âmbito da justiça da infância e da adolescência, o foco está na situação de infração, com medidas sócio-educativas e liberdade assistida (Oliveira e Silva, 2002).
A menor idade no trabalho e a frequência escolar da criança camponesa variam de acordo com a condição da família. Quanto maior o grau de proletarização da família mais se dá a entrada precoce da criança nas atividades empreitadas pela família (Pires, 1988:56).
IV - Infância, Direitos e Trabalho no século XX
Os conceitos criança, infância e adolescência fazem parte do processo de afirmação desses sujeitos na formação da sociedade ocidental. Simultaneamente a processos educacionais e a consolidação do modo de produção capitalista, as condições da infância foram sendo pensadas mais objetivamente em diferentes dimensões a partir do final do século XIX, e a legislação sobre trabalho infantil a se definir a partir do final da década de 1910. Criada, em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, a Organização Internacional do Trabalho - OIT - juntou-se, em 1923, à ONG Union for Child Welfare, para elaborar princípios que fundamentassem os Direitos da Criança, os quais foram incorporados pela Liga das Nações, que formulou a primeira Declaração dos Direitos da Criança, em 1924. A ideia de uma legislação internacional buscava harmonia com as legislações trabalhistas no sentido de buscar a melhoria nas relações de trabalho. Partia de três eixos argumentativos: fundamentos humanitários, políticos e econômicos, que questionavam direitos diferenciados e responsabilidade social no desenvolvimento.
A primeira Declaração definia os direitos da criança em quatro itens, marcados pela ausência de coerção, mas iniciou o reconhecimento dos direitos da infância, a ideia da necessidade de sua proteção, o que engendrou mudanças em relação à concepção sobre a autonomia e os direitos da criança e do adolescente. Já estava implícito, naquele momento, o importante conceito de interesse superior da criança, retomado recentemente na Convenção de 1989. Nesta trajetória, em novembro de 1946, dada a existência de milhares de crianças órfãs ou deslocadas de guerra, a Organização das Nações Unidas, recentemente criada, agilizou um Fundo Internacional de Ajuda Emergencial à Infância Necessitada - UNICEF (United Nations Internacional Child Emergency Fund). Como os conhecimentos sobre as condições da infância em diferentes regiões fossem alarmantes, este órgão, em 1953, por decisão da Assembleia Geral da ONU, passou a ser permanente e estender sua ação a serviços sociais à criança e sua família em diferentes contextos e situações de necessidades.
Em 1959 a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração dos Direitos da Criança, definida em dez princípios, que buscaram ampliar e atualizar a proteção enunciada nos quatro artigos da declaração de Genebra, de 1924. O espírito de ampliação de direitos estimulado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, um código de princípios e valores universais embasados em uma concepção inovadora, que entendia os direitos humanos como universais e que a sua proteção não poderia se resumir ao domínio reservado do Estado, porque revelava tema de legítimo interesse internacional. Outra concepção inovadora foi a de que os direitos humanos compõem uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, na qual os direitos civis e políticos devem se conjugar com os direitos econômicos, sociais e culturais. Ela inovou ainda ao combinar o discurso liberal da cidadania com o discurso social, de forma a cruzar tanto direitos civis e políticos, pelos arts. 3º a 21, como direitos sociais, econômicos e culturais, pelos arts. 22 a 281. Provocou um impacto nas constituições, legislações e jurisprudências nacionais, em tratados internacionais, convenções, resoluções e recomendações que emanaram das Nações Unidas desde então2.
A partir do final da década de 1960, devido à pressão do Movimento dos Direitos Humanos Internacionais contra o regime do apartheid na África do Sul, e das denúncias de violações de direitos humanos por ditaduras militares em várias partes do mundo, se deu forte engajamento de mediadores nacionais e internacionais para a aplicação sincrônica dos dois Pactos. No sentido da afirmação dos direitos humanos, os direitos difusos passaram a figurar em diferentes Convenções, destinadas a proteger certos grupos de indivíduos, posicionando-se contra certos tipos de violações3.
Neste contexto de afirmação de direitos, no que se refere aos direitos de crianças e adolescentes, a Organização Internacional do Trabalho - OIT, definiu a Convenção 138/1973, sobre a idade mínima do trabalhador, definindo que todos os países deveriam especificar a idade mínima de admissão ao emprego ou ao trabalho, recomendando que se respeitasse a idade mínima em um nível que possibilitasse o mais completo desenvolvimento físico e mental da criança, ou seja, que não fosse inferior à idade em que cessa a obrigação escolar, ou seja, 15 anos. Esta Convenção passou a ser mais um elemento na reflexão sobre os direitos humanos e do arcabouço jurídico do Estado de Direito que, nos seus desdobramentos, estimulou uma teia de discussões internacionais sobre a infância, tecida por organizações internacionais e movimentos sociais.
No final do século XX, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1989, comporta a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, tornados seres dotados de qualidades intrínsecas e condições peculiares de existência, sendo por isso portadores de direitos especiais, aos quais, cabem à família, à sociedade e ao Estado, zelar para que sejam conferidos de fato.
A amarração dos direitos internacionais aos direitos nacionais depende dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em cada país. No Brasil, a Constituição de 1988, artigo 5 (2) define que "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja Parte". Assim, em 1992, o Estado brasileiro passou a acatar os Pactos de Direitos de 1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Definiu um Plano Nacional de Direitos Humanos e adotou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1989. Elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente e ratificou a Convenção 138/1973 da OIT, sobre a idade mínima para o trabalho, conveniando-se ao Programa Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Ratificou ainda a Convenção 182/1999 da OIT, sobre as piores formas de trabalho infantil. Esta trajetória galopante rumo aos direitos da criança e do adolescente leva-nos a um resgate histórico dos direitos da criança no Brasil.
V - Direitos da Criança no Brasil
Na perspectiva sociojurídica, a historia dos direitos da criança no Brasil abarca quatro períodos: caritativo-religioso; filantrópico-científico-higienista; militar-científico; democrático-humanista. O primeiro, de 1500 até 1889, pode ser chamado de caritativo-religioso por causa da assistência à criança órfã ou exposta. Durante este longo período, em 1738, é fundada no Rio de Janeiro a primeira Casa dos Expostos do Brasil, instituição onde funcionava a Roda dos Expostos. Em 1823, nos trabalhos da Constituinte, José Bonifácio defendeu um projeto em que "a escrava, durante a prenhês e passado o terceiro mês, não será ocupada em casa; depois do parto terá um mês de convalescença e, passado este, durante o ano, não trabalhará longe da cria". Mas a primeira Constituição (1824) sequer menciona a criança e o adolescente.
Em decorrência da Campanha Abolicionista, em 1862 o Senado aprovou a lei Silveira da Mota, estabelecendo "a proibição de venda de escravos sob pressão e exposição pública, bem como a proibição de, em qualquer venda, separar o filho do pai e o marido da mulher". A Lei do Ventre Livre, de 1871, concedia a liberdade às crianças nascidas de mães escravas, visando a gradativa extinção da escravidão infantil. Entretanto: O menor deveria permanecer sob a autoridade do proprietário de escravos e de sua mãe, que juntos deveriam educá-lo até 8 anos de idade, quando o proprietário teria duas opções: poderia receber uma indenização estatal de 600 mil réis pagos em títulos do governo, a 6%, no prazo de 30 anos, ou se utilizar dos serviços do menor até que ele completasse 21 anos4.
O segundo, de 1889 a 1964, chamado de filantrópico-científico-higienista, é pautado por uma assistência à infância órfã, abandonada e delinquente, com base na racionalidade científica, para a qual o método, a sistematização e a disciplina tinham prioridade sobre a piedade católica anterior. Os fundamentos estão na união dos ideais positivistas republicanos com a necessidade de criação de instituições governamentais que proporcionassem educação elementar e capacitação profissional, para que a criança no futuro pudesse obter seu sustento, evitando o surgimento da delinquência juvenil.
A primeira Constituição Republicana (1891) é omissa em relação à infância e adolescência. A mentalidade filantrópico-cientifico-higienista estava presente nas reformas ao tratamento dado à infância. Até então, o tratamento jurídico destinado à criança não diferia muito daquele direcionado ao adulto. Forjada por um sentimento de indignação moral, vindo de cidadãos preocupados com a devassidão dos costumes, com a indisciplina cívica em suas mais variadas formas. Repercutiram em vários países da América Latina, legitimadas por suposta proteção à infância "abandonada" e "delinquente". Fundamentadas em "modernos princípios extraídos da psicologia, da psiquiatria e da pedagogia", o isolamento institucional era estratégico para a manutenção da parte sadia da sociedade5. Segundo esta mentalidade o Código de Menores de 1927 conseguiu corporificar leis e decretos que, desde 1902, se propunham a aprovar um mecanismo legal que desse especial relevo à questão do menor de idade. A solução para o problema do "menor" estaria na racionalização da intervenção judiciária, a fim de oferecer assistência e amparo com finalidades profiláticas"6.
A primeira Constituição republicana brasileira que menciona questões vinculadas à infância e juventude é a de 1934. Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: amparar a maternidade e infância, e proteger a juventude contra a exploração, bem como contra o abandono físico, moral e intelectual (art. 138, letras c e d)7.
No processo de institucionalização da "questão do menor", o Código Penal brasileiro de 1940, fixa a idade penal em 18 anos. Em 1941 foi criado o Serviço de Assistência a Menores - SAM, com a tarefa de prestar, em todo o território nacional, amparo social aos menores desvalidos e infratores. A medida buscava centralizar a execução de uma política nacional de internação. A modernização sem mudanças procurou esconder e ignorar parcela significativa de crianças e adolescentes brasileiros, como aquela vista nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, que se modernizava na virada do séc. XIX para o XX, como mostram as crônicas de João do Rio8.
Os primeiros debates sobre a exploração das crianças no trabalho ocorreram entre os anos de 1900 e 1920, motivados pelo afluxo de crianças nas indústrias paulistas, primeiramente no ramo têxtil e, depois, de modo generalizado. Doenças, acidentes, menor salário de mulheres e crianças, e demais problemas decorrentes das longas jornadas de trabalho, moveram a classe operária em suas lutas por direitos na primeira República9. Autoridades judiciárias definiram papéis, como os Juizados de Menores e os próprios empresários, que passaram a estabelecer parcerias com as Secretarias de Estado, no sentido de garantir um processo de formação que, ao mesmo tempo, preparasse os jovens para o trabalho. Assim, ao longo da década de 1940 e, em seguida, no segundo período do Governo Vargas, nasceu o chamado sistema S, SESC, SENAI, SENAC, cuja função era preparar os jovens para o trabalho e garantir os subsídios governamentais para o desempenho destas tarefas.
O terceiro período, militar-científico, vigorou de 1964 a 1988, embasado na visão de que o menor abandonado e infrator é uma questão de segurança nacional, e cabe ao Estado cabe propiciar disciplina, reprimir e reeducar a criança "abandonada". Com esse espírito, em dezembro de 1964 foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM. Esta instituição segue a linha pedagógica de internação do antigo Sistema de Atendimento ao Menor - SAM, acrescentando-se ao seu Programa Nacional de Bem-Estar do Menor - PNBEM, o apoio doutrinário e logístico da Escola Superior de Guerra - ESG - e sua Doutrina de Segurança Nacional. A síntese dessa mentalidade está na segunda edição do Código de Menores, de 1979, que confirma a doutrina da situação irregular.
Esta centralização das políticas de atendimento à criança e ao adolescente coincidiu com a comemoração do Ano Internacional da Criança (1979), fruto de mobilização mundial, que exigia atenção especial aos direitos das crianças, fundamentada nas reflexões sobre direitos humanos que permeavam as ações dos diferentes mediadores sociais há décadas10. Visava mudanças na legislação, na mentalidade social e nas práticas judiciais e sociais dos órgãos do Estado que implementavam a política destinada a esse segmento.
Contexto de mudanças políticas no sentido da ampliação do Estado de Direito, com eleições para o legislativo, em 1982, seguidas do movimento constituinte, do movimento pelas Diretas-Já, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR, formado no início dessa década a partir de uma rede composta por pessoas e instituições engajadas em programas alternativos de atendimento à criança e ao adolescente, é o primeiro interlocutor em âmbito nacional sobre a problemática da criança pobre e excluída11.
VI - Trabalho Infantil
As primeiras formas jurídicas sobre o trabalho infantil surgiram na passagem do século XIX para o XX. O Decreto 1313, de 1891, estabelecia a jornada diária máxima de 7 horas para trabalhadores de sexo feminino com idade entre 12 e 15 anos e do sexo masculino na faixa de 12 a 14 anos; e de 9 horas diárias para os meninos com idade entre 14 e 15 anos. Posteriormente, o Decreto 22.042, de 1921, "regulamentou o trabalho dos adolescentes entre 14 e 18 anos no setor industrial", expressando preocupação com a saúde e a educação desses trabalhadores12.
A Constituição de 1934 fixou o limite mínimo de idade para o trabalho do menor que não tivesse permissão judicial em 14 anos, para o trabalho noturno de menores de 16 anos e, nas indústrias insalubres, para os menores de 18 anos. Estes termos foram mantidos pelas Constituições de 1937 e 1946. Esta última proibia o trabalho em indústrias insalubres para mulheres, independentemente da idade. Entretanto, dado "o sistema ineficiente de fiscalização, e no contexto de um processo de implantação da infra-estrutura do parque industrial brasileiro, tais normas foram burladas com frequência"13.
A CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, Decreto-lei 5.452/43, trouxe maiores restrições ao trabalho do menor, fixando a idade-limite em 14 anos, e as condições de trabalho para menores na faixa de 14 a 18 anos começam a ser regidas por regulamentos específicos.
Os avanços da legislação de 1943 foram revertidos pelas disposições da Constituição de 1967 em dois pontos fundamentais: o rebaixamento da idade mínima de 14 para 12 anos e a eliminação da proibição, estabelecida na Constituição de 1946, de qualquer discriminação de salário por motivo de idade. Mudanças que fazem sentido quando levamos em conta a articulação entre as normas legais reguladoras do processo econômico e as características conjunturais daquele momento, em que se lançavam as bases para a expansão econômica de 1968-73 programada pelo regime militar. A contrapartida social para a ampla oferta de força de trabalho migrante - criança, adolescente e adulto - foram as políticas de arrocho salarial, que "empobreceram as já pobres famílias dos estratos de renda mais baixos, de tal forma que a única solução encontrada por elas para garantir sua reprodução foi transformar precocemente filhos e filhas em provedores monetários" 14.
Decorreram mais de vinte anos de legalização do uso predatório do trabalho infanto-juvenil, todo o período de maior crescimento da economia brasileira. Os números apontam uma absorção acelerada do emprego da mão-de-obra de crianças e jovens entre 1970 e 1985. Dentro desse período, entre 1980 e 1984, houve um arrefecimento nessa absorção, que se inverte totalmente a partir de 1981. Nessas três fases, demanda e oferta acompanharam as exigências do mercado de trabalho em geral, mas, quando a crise dos 80 se intensificou, o excedente de mão-de-obra foi tanto do adulto quanto da criança. O quadro social das grandes cidades passa a expressar o subemprego, maior presença da criança na rua. Fica explícito que o universo da mão-de-obra infanto-juvenil começa aquém da faixa etária de 10 anos, aferidos pelos dados estatísticos, e que representam um pequeno universo de trabalhadores com contrato de trabalho. Tal hipótese ganha consistência quando levamos em consideração o universo de crianças que trabalham e escapam da regulamentação legal, vivendo um mundo de trabalho invisível aos olhos do grande público, mas arcando, dentro de casa, com os encargos domésticos de sua família ou de outras15.
O quarto período tem como princípio valores democrático-humanistas. Buscou materializar uma legislação especial, baseada na doutrina jurídica da proteção integral, que passou a tratar criança e adolescente abandonados e infratores como sujeitos de direitos.
No novo espaço social urbano, as carências engendraram lutas coletivas por equipamentos urbanos. Devido ao caráter público da gestão coletiva destes serviços, a solução encontrada foi a manifestação coletiva, sob duas formas: a ação organizada, vinda das associações ou Sociedades de Amigos de Bairros e a ação direta, vinda de protestos repentinos e inesperados, em face da deterioração de um setor do serviço público.
Os clubes de mães se constituíram como extensão das relações de vizinhança, da busca de alternativas para uma rotina opressiva da mulher, somada a uma reflexão coletiva sobre as carências do cotidiano que mostrava que os problemas antes encarados como "naturais" eram, na realidade, fruto de descaso do poder público e se configuravam em ausência de direitos. As motivações tornaram-se pontos de partida para o redimensionamento, tanto de aspectos da vida doméstica, do cotidiano, quanto da vida política. Como extensão, os movimentos sociais organizaram ações "para fora", reivindicações, ante os poderes públicos, de escolas, creches, pontos de ônibus, postos de saúde, mutirões para limpeza, centros comunitários para cuidar de crianças, etc. Nesses espaços sociais, dado o caráter pedagógico-político que lhe eram inerentes, foram sendo engendrados os valores apreendidos nos movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que se fortalecerão na década de 1980.16
Os anos 1980 ganharam a marca de "anos de resistência" popular, nascida fora dos locais de trabalho, embasadas em uma consciência de insubordinação, "um sentimento de oposição e revolta que culminou em passeatas, ocupações de terras, depredações e inúmeros tipos de manifestações, organizadas ou espontâneas, que, a partir dos finais dos anos 1970, passaram a desafiar abertamente a ordem instituída"17.
Após a Constituição de 1988, em abril de 1990 o governo Collor de Mello extinguiu a FUNABEM e criou a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência - FCBIA com o objetivo de formular, normatizar e coordenar a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como de prestar assistência técnica a órgãos e entidades que executassem essa política. Em 13 de julho de 1990, a Lei 8.069 cria o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
O grupo de redação do Estatuto foi composto por diferentes mediadores, que divergiam em várias questões relacionadas às concepções metodológicas, educativas, filosóficas, de criança, de adolescente, de direito, de justiça. Havia uma "tensão nos diferentes projetos políticos societais" submersa nas relações, que sustentavam as discussões. Os principais mediadores ou forças políticas podem ser divididos em três grupos: jurídico, de políticas públicas e movimentos sociais; "1) No mundo jurídico - representado por juízes, promotores, advogados e professores de direito; 2) nas políticas públicas - representado por assessores da FUNABEM e por dirigentes técnicos de órgãos estaduais inscritos no FONACRIAD (Fórum Nacional dos Dirigentes de Políticas Estaduais para a Criança e Adolescência; 3) nos movimentos sociais - representado pelo Fórum DCA e por um considerável grupo de entidades não governamentais" 18.
Os anseios populares por direitos fundamentais vindos de diferentes frentes de lutas foram contemplados nas formas jurídicas, sobre o trabalho da criança e do adolescente, no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, destacando-se três situações distintas:
1 - a proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos - até que se complete o ensino fundamental, conforme a Convenção 136/173 da OIT;
2 - a proibição de trabalho aos adolescentes com idade entre 14 e 16 anos, salvo na condição de aprendiz (Emenda 20 de 98);
3 - a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos adolescentes com idade entre 16 e 18 anos.
Para a efetivação de políticas sociais, o parágrafo 1º. do art. 227 da Constituição Federal estabelece que "o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitindo a participação de entidades não governamentais". Foi a partir desse artigo que se deu a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
O artigo 1º. do ECA dispôs sobre a proteção integral à criança a ao adolescente; o artigo 3º reforçou as garantias inerentes à pessoa humana previstas na Constituição, a fim de assegurar-lhes todas as oportunidades e facilidades, no sentido de lhes possibilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Segundo o ECA, a responsabilidade em relação à criança e ao adolescente fica dividida entre a família, a comunidade ou sociedade em geral e o poder público, ou seja, o dever de assegurar, "com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos inerentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária".
Seus princípios fundamentais são três: da cidadania, do bem comum e da condição peculiar de desenvolvimento. Sua principal diretriz é a "articulação das políticas básicas e das assistenciais e a execução de programas e serviços de proteção especial" (Art. 4).
No que se refere à Erradicação do Trabalho Infantil, o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da OIT, criado para estimular a ratificação da Convenção 138/1973, se propõe a oferecer cooperação técnica aos Estados membros da OIT, para a formulação de acordos e programas de erradicação e prevenção do trabalho infantil, visando restringir progressivamente essa modalidade de trabalho, regulamentá-lo, tendo em vista a sua eliminação definitiva. Os meios para tanto deveriam vir de uma política de crescimento econômico que resulte na diminuição da pobreza. Opção feita pelo Brasil desde a primeira reunião Ibero-americana tripartite - em nível ministerial - sobre a erradicação do trabalho infantil, realizada em 1997, em Cartagena das Índias. Além de sinalizar nesse sentido, o País assumiu o PETI, cujo objetivo é retirar crianças do trabalho insalubre ou degradante, em consonância também com a Convenção 182/1999 que começava a ser discutida naquele momento.
As primeiras iniciativas procuraram diagnosticar os focos do trabalho da criança e do adolescente juntamente com a SAS - Secretaria de Assistência Social, dentro dos marcos da Política Nacional de Assistência Social. Ao mesmo tempo, formular programas e projetos que contribuíssem para a permanência e inserção ou reinserção da criança e do adolescente de 7 a 14 anos na escola, como solução para a eliminação do trabalho em atividades perigosas, insalubres e degradantes. Assim, a iniciativa do Ministério do Trabalho constitui-se numa ação interministerial que integra o conjunto de ações realizadas, e as políticas sociais para a erradicação do trabalho infantil, a partir de 1990, convergiram para o PETI, em consonância com os anseios da sociedade civil, representada no FNPETI - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, articulação resultante da organização de diversos setores e instâncias governamentais e não governamentais. Visa reunir, em nível municipal, os esforços de governos, organizações de trabalhadores, empregadores, ONGs, educadores, pais e crianças para uma cruzada contra o trabalho infantil.
O PETI está assentado em três eixos: a escola, a jornada ampliada - reforço escolar, atividades esportivas, artísticas e de lazer - e o trabalho com as famílias, elemento central na doutrina da proteção integral, que significa promover meios para que famílias possam ser sujeitos do processo de promoção social, por meio de oferta de ações socioeducativas e da implementação de programas e projetos de geração de trabalho e renda, objetivando contribuir para o processo emancipatório da família19.
A compreensão sobre o significado do trabalho infantil relacionado à cadeia produtiva subsidia a ação da OIT, pois reconhece que este trabalho não ocupa postos de trabalho para jovens, "nem é trabalho valioso nem o aprendizado combinado com a escolarização, que impulsionaria as perspectivas presentes e futuras de uma criança. Nas suas piores formas é abuso de poder; são adultos explorando jovens, ingênuos, inocentes, fracos, vulneráveis e inseguros" 20.
Do documento "Recomendação sobre eliminação do trabalho infantil", de 1998, preparatório para a discussão do tema na Conferência de Oslo do mesmo ano, saiu uma "Agenda de Ação", que destaca as formas mais intoleráveis de trabalho infantil que devem ser eliminadas. Entre elas estão a escravidão e práticas similares, como venda e tráfico de crianças, servidão por dívidas, trabalho forçado ou compulsório, o recrutamento de crianças em conflitos armados, prostituição e pornografia infantil, atividades ilícitas como o tráfico de drogas, e trabalhos que prejudicam a saúde, a segurança ou a moral das crianças, os quais deverão ser identificados por legislação e regulamentação nacionais. Crianças forçadas a trabalhar, principalmente em decorrência de situação de pobreza ou miséria absoluta de sua família e que, por isso, são obrigadas a arcar com os custos de sua subsistência.
A Marcha Global Contra o Trabalho Infantil foi iniciada em 1996 para promover a Convenção 182 da OIT. Em 1998, com a maior coalizão das organizações não governamentais ao movimento, veio à tona a realidade do trabalho infantil, já indicada pelos relatórios de instituições que investigavam esse tipo de violação de direitos humanos. Apesar de não ter poder oficial, a Marcha foi reconhecida como representante da sociedade civil e participou das negociações do Fórum das Nações Unidas em Dacar, em abril de 2000, do qual participaram cerca de 150 países, que se comprometeram a pôr fim às piores formas de trabalho infantil e a ampliar a obrigatoriedade da educação gratuita, obrigatória e de qualidade.
As duas Convenções da OIT, a 138/1973 e a 182/1999 já influenciavam reflexões e ações de vários mediadores, mas só foram ratificadas em 2000, o que fez com que o país entrasse em uma fase delicada, a de fazer valer as palavras que estão nesses documentos. No âmbito das negociações da Organização Mundial do Comércio, o tema é discutido somente na perspectiva de guerra comercial entre as nações21.
Ao traçar as diretrizes para a implementação das convenções, a OIT considera que são necessárias linhas efetivas da ação social e política nos três níveis da federação, com metas e prazos definidos, de forma coordenada entre trabalhadores, empregadores e governos, dentro da cadeia produtiva. Lembra aos empresários que, no marco da responsabilidade social sustentável, utilizem os recursos legais existentes, como os mecanismos relacionados à dedução no imposto de renda anual, para destinar recursos financeiros ao Fundo da Criança e do Adolescente do município, a fim de atender às necessidades de crianças afastadas do trabalho e promover a inclusão adequada dos adolescentes no mercado de trabalho.
As campanhas oficiais e da sociedade civil organizada - "Lugar de criança é na escola"; "Não ao trabalho infantil" - distinguem a escola como único lugar possível onde a criança deveria estar para não se submeter ao trabalho. Apesar de fundamental, essa dimensão é muito restrita e nos direcionaria para a análise da escola como lócus privilegiado para a formação integral da criança, assunto que daria muitos desdobramentos, pois o que se verifica em relação a essa instituição, se consideradas as pesquisas recentes, é que ela não consegue sequer realizar suas funções pedagógicas básicas.
Pesquisa junto a famílias e crianças de dois bairros da cidade de Teófilo Otoni dá indício de que a efetivação de políticas sociais para a erradicação do trabalho infantil falha em vários aspectos, como, por exemplo, no compromisso com as famílias, no sentido de propiciar seu processo de promoção social e de respeito aos direitos fundamentais. Outras limitações observadas são a falta de perspectiva dos jovens que saem do programa e a perspectiva de questão de gênero, ausente nas políticas sociais.
Bibliografia
GNACCARINI, José César. Latifúndio e Proletariado: formação da empresa e relações de trabalho no Brasil rural.1986.
___________. "O Trabalho infantil na era da alta tecnologia". In. MARTINS, J. de S. (Org.). O massacre dos inocentes; a criança sem infância no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1991
MARTINS, J. de S. (Org.). O massacre dos inocentes; a criança sem infância no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1991
Martins, JS. MARTINS, J. de S. Os Camponeses e a política no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986, p. 34, 67-71.
MARTINS, J. de S. A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira. In NOVAIS, Fernando (coord.) História da Vida Privada no Brasil: Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 659-725.
MIRANDA, S. M. PEREIRA, José Roberto G. e TERRA, David. A Exploração do trabalho Infantil no Mucuri e Médio Jequitinhonha. São Paulo: CUT/OIT, 1998.
MIRANDA, Silvanir Marcelino de. O Vai Vem do Sobrevivência: a Pastoral dos Migrantes e as Migrações no Brasil nos anos 1980.Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 1993.
MOURA, M. M. Os deserdados da terra: a lógica costumeira e judicial dos processos de expulsão e invasão da terra no sertão de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988
OLIVEIRA E SILVA, Maria Liduina. O controle sócio-penal dos adolescentes com processos judiciais em São Paulo: entre a "proteção" e a "punição". Doutorado em Serviço Social. PUC-SP: 2005
PIRES, Julio Manuel. Trabalho infantil: necessidade e persistência. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Economia e Administração da USP, 1988.
RIBEIRO, E. M. Lembranças da terra: histórias do Mucuri e Jequitinhonha. Contagem: CEDEFES - Centro de Doc. Eloy Ferreira da Silva, 1997a.
_____________"Lavouras, ambiente e migrações no Nordeste de Minas Gerais". : Travessia, nº. 28, maio/ago., 1997b.
RIZZINI, Irma. Pequenos trabalhadores do Brasil.In: DEL PRIORE, Mary. (org.) História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.
1 PIOVESAN, Flávia, Temas de Direitos humanos, 2ª ed, ver.,ampl. E atualizada. São Paulo: Max Limonad, 2003 p. 41.
2 TRINDADE, Antonio Augusto C. "O Legado da Declaração Universal e o Futuro da proteção internacional dos Direitos Humanos". AMARAL, JR. A. & PERRONE-MOISÉS, M. (org.) O Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, São Paulo: Edusp/Fapesp, 1999 p. 26.
3 Eliminação de todas as formas de discriminação racial (1965); Contra a discriminação de gênero e afirmação dos direitos da mulher (1979); Contra a tortura e outras práticas cruéis, desumanas ou degradantes (1984);CIDC - Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989).
4 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente - origem, desenvolvimento e perspectivas: Uma Abordagem sócio-jurídica. Tese de Professor Titular, UFSC, 1996. Apud VERAS NETO, Francisco Quintanilha. Breve histórico da Evolução dos Direitos à Cidadania das Crianças e dos Adolescentes no Brasil. Resumo Docente Histórico-Legislativo. Mimeo.
5 MÉNDEZ R. Garcia. Infância e cidadania na América Latina, São Paulo: Hucitec/Inst. Ayrton Senna, 1998, p.32; ADORNO, Sérgio. "A experiência precoce da punição". In Martins, J. de Souza. O Massacre dos Inocentes; a criança sem infância no Brasil, São Paulo: Hucitec, 1991, p. 181.
6 ADORNO, Sérgio. Idem, p. 182.
7 VERONEZI, Os Direitos da... Op. cit, 1996.
8 João do Rio. A Alma Encantadora das Ruas. Org. Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
9 PRIORE, Mary Del (Org.) História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.
10 SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena: experiências e lutas dos trabalhadores da grande São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
11 GOHN, Maria da Glória M. Os Sem-Terra, ONGs e Cidadania. São Paulo: Cortez Editora, 1997 p. 119. OLIVEIRA E SILVA, Maria Liduina. O Controle sócio-penal dos adolescentes com processos judiciais em São Paulo: entre a "proteção" e a "punição", Doutorado em Serviço Social. PUC-SP: 2005 p. 78.
12 CASTRO, João A. L. e Castro, Dayse S. L. "Aspectos jurídicos da proibição do trabalho infantil e da proteção ao trabalhador adolescente". In: CARVALHO NETO, Antonio. (Orgs.) Trabalho Infantil: Infância Roubada. Belo Horizonte: PUC-MG, Instituto de Relações do Trabalho, 2002 p.62.
13 SPINDEL, Cheywa R. Crianças e adolescentes no mercado de trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 36.
14 Idem..
15 MACHADO, Leda Maria Vieira. A incorporação do gênero nas políticas públicas: perspectivas e desafios. São Paulo: Annablume, 1999.
16 SADER, Eder. Quando novos ... Op. cit. p. 145.
17 KOWARICK, L. & BONDUKI, N. Espaço Urbano e espaço político: do populismo à redemocratização, In As Lutas Sociais e a Cidade: São Paulo; Rio de Janeiro: CEDEC/Paz e Terra.p. 169.
18 OLIVEIRA E SILVA, Maria Liduina. O controle sócio-penal dos adolescentes com processos judiciais em São Paulo: entre a "proteção" e a "punição". Doutorado em Serviço Social. PUC-SP: 2005, p. 86/87.
19MARQUES, Maria Elizabeth, FAZZI, Rita de Cássia e LEAL, Rita de S. "As representações das políticas públicas de erradicação do trabalho infantil no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas Gerais" In: CARVALHO NETO, Antonio. (Orgs.) Trabalho Infantil: Infância ... Op. cit., p. 217.
20 SOMAVIA, Juan, Diretor Geral da OIT. A Call for Universal Ratification, apud Trechos do Relatório Brasileiro sobre DHESC da Plataforma Brasileira de DHESC. .MIMEO, 2004.
21 PASTORE, José. A Evolução do trabalho humano: leituras em relações do trabalho. São Paulo: Editora LTr, s/d.