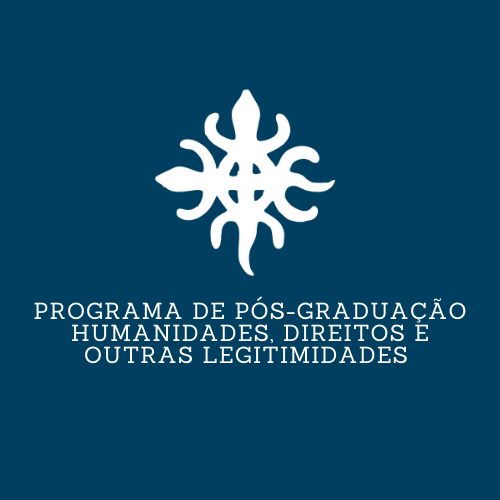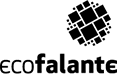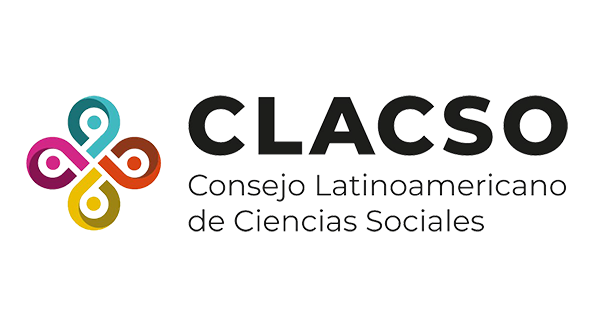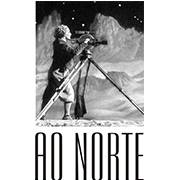Marli Quadros Leite
No mundo moderno, pela expansão das mídias, a todo momento acontecem episódios em que as pessoas experimentam, ou simplesmente tomam conhecimento, de casos de preconceito ou de intolerância, materializados pela linguagem. Tentarei, aqui, apresentar alguns exemplos dessas situações para mostrar como tais fenômenos são traiçoeiros e, muitas vezes, ocorrem sem que as pessoas os percebam.
Antes mesmo de refletir mais demoradamente sobre o assunto, mas já para mostrar como é fácil flagrar o fenômeno, é bom apresentar um texto em que o autor, o jornalista Fernando Rodrigues, da Folha de S. Paulo, estampa seu preconceito contra "o nordestino", ao comentar as falcatruas do senador Calheiros. Vejamos o texto:
O crepúsculo de Renan
É impossível prever o desfecho da crise na qual mergulhou o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Como o processo já começou, ele só pode ser absolvido ou cassado. Não há mais a hipótese de renunciar para fugir de uma eventual punição.
Há um certo tom patético em todo o caso, como nos escândalos políticos midiáticos de qualquer país. Homem casado, relação fora do casamento, filha, mulher bonita, pensão em dinheiro vivo e rebanho de gado fabuloso no interior de Alagoas. O azar de Renan é a fácil inteligibilidade da sua encrenca. Poucos brasileiros sabem descrever o longínquo caso dos precatórios ou mesmo o conteúdo da recente Operação Hurricane, da PF.
Mas filha fora do casamento, dinheiro vivo e vacas milionárias suspeitas todos entendem. Para completar, Renan Calheiros não é um qualquer. Preside o Senado. Foi aliado de todos os governos pós-ditadura militar: Sarney, Collor, Itamar, FHC e Lula. Tem sotaque nordestino. É o protótipo do político marcado para ser detestado no Sul e no Sudeste - mesmo que os eleitores dessas regiões despachem para Brasília certos clones caucasianos do mesmo Renan. (Grifamos)
Inocentado ou condenado, o senador alagoano já é um político em processo avançado de desidratação. Antes do Renangate, ajudava a conduzir a aliança de seu partido, o PMDB, com Lula. Exalava perspectiva de poder. Sonhava ser candidato a vice-presidente numa chapa competitiva em 2010. A chance de Renan vir a ser vice-presidente agora tende a zero. Do ponto de vista político, pouco importa se os bois renanzistas existem ou qual foi o valor de venda. O presidente do Senado fragilizou-se de maneira irreversível. Se não for cassado, poderá continuar no Congresso ainda muitos anos. Mas sua carreira terá entrado numa longa e cinzenta fase crepuscular. (Folha de S.Paulo, 16/06/2007)
Qual é o problema do texto? A crítica do jornalista à situação em que o senador se envolveu? A crítica ao político? Não. O que denigre o texto é a declaração de que o senador pode ser odiado por ter uma dada origem, denunciada pela linguagem, nesse caso a nordestina, e que por isso não é probo. Pela afirmação, ou melhor, pelos argumentos estapafúrdios, várias pressuposições ficam plantadas: primeira, a de que todos os políticos nordestinos são desonestos; segunda, a de que os habitantes do Sul e Sudeste odeiam o sotaque nordestino e, consequentemente, seus usuários; terceira, a de que somente o Sul e Sudeste podem ter homens brancos (caucasianos) e que raros desses seriam desonestos; e finalmente, que os nordestinos são de outra raça/etnia que não a branca, própria das pessoas do Sul e Sudeste, e que por isso não são honestos. Está aí, materializado pela linguagem, o preconceito social, racial e linguístico, simultaneamente. Seria diferente se dissesse: "É desonesto. É o protótipo do político marcado para ser detestado no país inteiro".
É claro que o autor pensou em dizer que o senador tem tudo para ser odiado pelo conjunto de características que reúne: é senador, foi aliado de todos os governos pós-ditadura e tem sotaque nordestino. De qualquer maneira, o argumento linguístico/geográfico é descabido. Além disso, esse último formalizou-se como argumento principal porque a frase curta, telegráfica, Tem sotaque nordestino, é forte, está lá para "ganhar" o leitor, e é sobre ela que está a ênfase linguística e, também, o preconceito.
1.1 Reconhecendo e distinguindo o preconceito e a intolerância linguísticos
À primeira vista, pode-se dizer, simplesmente, que as palavras preconceito e intolerância são sinônimas. Um exame um pouco mais detido, contudo, pode mostrar que preconceito é a ideia, a opinião ou sentimento que pode conduzir o indivíduo à intolerância, à atitude de não admitir opinião divergente e, por isso, à atitude de reagir com violência ou agressividade a certas situações. Isso indica uma primeira diferença: o traço semântico mais forte registrado no sentido de intolerância é ser um comportamento, uma reação explícita a uma ideia ou opinião contra a qual se pode objetar. Não constitui, simplesmente, uma discordância tácita. Um preconceito, ao contrário, pode existir sem jamais se revelar e, por isso, existe antes da crítica.
Voltaire, no Dicionário Filosófico, delineia certa diferença entre os termos, pois, ao definir preconceito, diz: "o preconceito é uma opinião sem julgamento" e, ainda mais, até afirma a existência de "preconceitos universais, necessários, que representam a própria virtude", dentre os quais cita a crença em "um Deus remunerador e vingador". Disso se conclui, pois, que o filósofo admitia o bom ou mau preconceito. No Dicionário Filosófico não há o verbete intolerância, mas se pode chegar a esse conceito pelo de tolerância, definida como o "apanágio da humanidade", isto é, um privilégio, uma regalia, uma vantagem, fato que, como se sabe, não é próprio de todos os seres humanos, em todas as circunstâncias de suas vidas. A ausência da tolerância, conforme se pode deduzir do discurso de Voltaire, é a dificuldade de o ser humano aceitar bipolaridades, especificamente as religiosas, o que pode levar o homem a um comportamento agressivo, à perseguição do adversário.
Atravessando séculos, do XVIII ao XX, tomemos as idéias de Norberto Bobbio, filósofo italiano, morto recentemente (2004). Ao tratar das "razões da tolerância", esse filósofo examina dois dos principais significados que a palavra tolerância tem, para, a partir disso, formular os conceitos de preconceito e intolerância. O termo tolerância, diz ele, pode, em seu sentido mais comum, ser empregado em referência à aceitação da diversidade de crenças e opiniões, principalmente religiosas e políticas. A intolerância, pois, refere-se à incapacidade de o indivíduo conviver com a diversidade de conceitos, crenças e opiniões (Bobbio, 1992, p. 203-204). Conforme Rouanet afirma, "muito sumariamente, a intolerância pode ser definida como uma atitude de ódio sistemático e de agressividade irracional com relação a indivíduos e grupos específicos, à sua maneira de ser, a seu estilo de vida e às suas crenças e convicções. Essa atitude genérica se atualiza em manifestações múltiplas, de caráter religioso, nacional, racial, étnico e outros". Dentro desse "outros" situamos a intolerância linguística. O que é essencial disso é que a intolerância gera discursos sobre "a verdade" (ou verdades) e, também, sobre a compatibilidade/incompatibilidade teórica ou prática de duas verdades que se contrapõem.
Já o preconceito, embora tenha em comum com o significado de intolerância a não aceitação da diferença do outro, o que também se manifesta comportamentalmente, não leva o sujeito à construção de um discurso acusatório sobre a diferença, porque o preconceito pode construir-se sobre o que nem foi pensado, mas apenas assimilado culturalmente, ou plasmado em irracionalidades, emoções e sentimentos. O preconceito, portanto, não tem origem na crítica, mas na tradição, no costume ou autoridade. Pode o preconceito redundar em uma discriminação, mas não se manifesta discursivamente sobre argumentos que visam a sustentar "verdades" (op. cit.).
Apesar de as duas concepções examinadas serem diferentes, pode-se extrair de ambas a mesma lição: o preconceito não surge, exclusivamente, de uma dicotomia. Pode ser uma rejeição, um "não-querer" ou um "não-gostar" sem razão, amorfos, e, pode até mesmo não se manifestar; a intolerância, por sua vez, nasce, necessariamente, de julgamentos, de contrários, e se manifesta discursivamente. É resultado da crítica e do julgamento de ideias, valores, opiniões e práticas.
Assim como Voltaire reconheceu "o bom e o mau preconceito", e outros autores, como comprovado na história da filosofia, detiveram-se na análise de conotações positivas e negativas da tolerância, Bobbio fala de valores positivos e negativos tanto da tolerância quanto da intolerância.
Conforme comenta Dascal (1989), Locke, no Ensaio do entendimento humano, diz que o governo deve "tolerar" religiões e idéias ‘diferentes', mesmo falsas, desde que não prejudiquem a sociedade. O autor lembra também que Stuart Mill, em Sobre a liberdade, afirma, ao comentar a filosofia da ‘nova revelação' dos mórmons, da qual discorda, que a sociedade deve ser tolerante com ideias e conceitos dos outros, mesmo errados, se não houver violência para impô-los. Dascal "concorda discordando" dessa situação: concorda com o princípio de que os diferentes têm direitos, mas discorda dos argumentos usados nos dois casos citados, para tolerá-los. O argumento suficiente em tal situação deveria ser, literalmente, como expõe o filósofo:
Não tenho o monopólio da verdade ou da moralidade, e por isso devo respeitar ideias diferentes da minha como capazes de ser tão verdadeiras ou morais como a minha. Desta forma, a tolerância deixa de ser um princípio minimalista que tolera o erro a partir da superioridade do ‘esclarecimento', e passa a ser um princípio maximalista que reconhece a possibilidade de que o ‘tolerado' talvez tenha razão, e que, portanto, suas ideias merecem respeito e não apenas paciência. (op. cit. p. 221) (Grifos do autor)
Os termos são polares, portanto, o sentido de um faz-se por oposição ao do outro. Entre os dois polos há um continuum em que se podem identificar três regiões: duas muito próximas a cada um dos polos, o que Bobbio denomina "pontos de abstração", e a terceira, intermediária entre ambos, denominada "zona cinzenta", em relação aos conceitos de cada ponta. Segundo entendemos, nessa zona cinzenta pode estar o "ponto de equilíbrio" e de racionalidade sobre a realidade e as ideias do mesmooutro (TU). Nas duas zonas de abstração, nos polos, tanto pode haver como não haver racionalidade, daí a existência dos valores negativo e positivo para cada conceito/comportamento. O gráfico a seguir concretiza essa idéia: (EU), em face do
Ponto de abstração A Zona cinzenta Ponto de abstração B
Presença de valores + ou - Equilíbrio Presença de valores + ou -
Os dois conceitos, de tolerância e de intolerância, são relativos e históricos: há situações que exigem do homem uma reação de intolerância e outras que exigem a tolerância, assim, "em sentido positivo, tolerância se opõe a intolerância em sentido negativo" e vice-versa. Nada explica melhor essas ideias que as palavras da seguinte citação:
Intolerância em sentido positivo é sinônimo de severidade, rigor, firmeza, qualidades todas que se incluem no âmbito das virtudes; tolerância em sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de indulgência culposa, de condescendência com o mal, com o erro, por falta de princípios, por amor da vida tranquila ou por cegueira diante dos valores. (Bobbio, p. 210)
A intolerância negativa caracteriza-se em situações em que ocorre "indevida exclusão do diferente" (op. cit., p. 211). Essa exclusão, como a história mostra, não é silenciosa, ao contrário, implica comportamentos violentos, agressivos, que atingem o outro na sua integridade física, moral ou racial. A tolerância positiva é silenciosa e implica a aceitação e respeito pelo outro. Já a tolerância negativa, também silenciosa, não implica a aceitação do outro nem o respeito por suas ideias.
O preconceito pode, até, ser confundido com o sentido negativo de tolerância. O termo tolerância foi, e é por alguns, compreendido por seu lado negativo, o da passividade que tendeu a prevalecer nas línguas românicas. Isso quer dizer que "ser tolerante adquiriu o significado de estar disposto a aguentar aquilo que não nos parece correto ou aceitável, seja por um sentido de justiça, seja por não termos outro jeito" (cf. Dascal, 1989). É o caso de, simplesmente, "suportar" o outro, ou o jeito e a linguagem do outro, e não o de aceitá-lo, de compreender e respeitar a sua maneira de ser, ou de falar, encarando-a como legítima. Esse comportamento ambíguo pode resultar, em momentos decisivos, em ações discriminatórias.
A partir do campo dessa temática filosófica, especificamente em relação à língua, pode-se falar tanto de preconceito quanto de intolerância, reconhecendo, contudo, as diferenças entre ambos. O preconceito é a discriminação silenciosa e sorrateira que o indivíduo pode ter em relação à linguagem do outro, é um não-gostar, um achar feio ou errado um uso (ou uma língua), sem a discussão do contrário, daquilo que poderia configurar o que viesse a ser o bonito ou correto. É um não gostar sem ação discursiva clara sobre o fato rejeitado. A intolerância, ao contrário, é ruidosa, explícita, porque, necessariamente, se manifesta por um discurso metalinguístico, calcado em dicotomias, em contrários, como, por exemplo, tradição x modernidade, saber x não-saber e outros congêneres.
Sob certo ponto de vista, somos todos, hipoteticamente, "preconceituosos", já que agimos e interpretamos o mundo de acordo com a nossa formação ideológica. Rouanet (2003) vai mais longe nessa ideia porque diz que, no fundo, todos nós somos intolerantes, desde a origem dos seres humanos, descendentes dos australopitecos que marcavam seu território com urina para impedir a entrada da horda rival.
Para dar a medida justa a essas ideias, Rouanet não se esquece de dizer que isso, contudo, não caracteriza um condicionamento, mas tendências, que, a depender de fatores externos, podem caracterizar comportamentos intolerantes. Entendemos ser essa também uma explicação cabível à origem do preconceito, pois o preconceito tem, do mesmo modo, origem na não aceitação de diferenças.
As diferenças linguísticas relacionadas a esses fatores unem os homens de mesmo estrato social e separam os diferentes. A linguagem é importante fator de identidade e de segregação porque denuncia diferenças desde que o homem fala.
Em outra direção, sem falar em filogenia e ontogenia, Dascal trata do problema de tolerância e interpretação, invocando Wittgenstein, Quine e Davidson, e diz não ser "possível sacudir com facilidade e de forma completa a poeira decorrente do processo interpretativo que se deposita inevitavelmente sobre as ideias, teorias e significações". A metáfora da poeira quer dizer que cada sujeito interpreta o mundo por sua ótica, com seu background. O próprio autor, porém, apressa-se em explicar que nem sempre as interpretações são tendenciosas, arbitrárias e distorcidas, a favor ou contra pessoas e ideias, mas tudo começa com a interpretação que o sujeito faz do mundo. E a interpretação nunca é ingênua.
2. Exemplos de preconceito e de intolerância
Referências a preconceito são frequentes na imprensa, tanto relativamente a fatos da realidade quanto da ficção. Na imprensa, a referência à origem nordestina de Severino Cavalcanti e Lula aparece, não poucas vezes, acompanhadas de tom preconceituoso. No ensaio "Que é isto? Qué es esto?", por exemplo, Roberto Pompeu de Toledo, ao tratar dos arroubos do então presidente da Câmara Legislativa, Severino Cavalcanti, ao assumir o cargo, faz um comentário, para mostrar o ridículo das ações do deputado, aliando origem e descuidado linguístico. Diz Pompeu:
(1)
A derrota, pelo menos temporária, do carro-chefe de sua campanha eleitoral - o aumento do salário dos parlamentares - talvez venha a baixar-lhe o facho. Mas, até prova em contrário, estamos diante de um caso em que Severino, seus entusiastas de primeira hora e os muitos aderentes de última hora, dentro e fora dos círculos políticos, estão todos docemente embalados na mesma fabulação. A de que com Severino raiou no céu da pátria a possibilidade de um Lula de direita - unidos, um e outro, pela origem sertaneja, o jeito de povão e as permanentes e acachapantes derrotas diante dos desafios da concordância verbal. (Grifos nossos)
O argumento é descabido não pela crítica ao ridículo das ações de Severino e da identidade oportunista que o Presidente da República criou com ele, mas pelo veio escolhido para elaborar a crítica que revelou o preconceito. A generalização pressuposta - o sertanejo não é refinado e não sabe usar a norma culta - que estende essas características a outros nordestinos sertanejos é que configura o preconceito.
As referências ao fato de o presidente Lula, antes e depois de ter-se tornado presidente, não ser usuário da norma culta são constantes na imprensa. Ainda como candidato, em maio de 2002, Lula demonstrou tanto ter consciência disso quanto de saber que esse era, também, um meio pelo qual o preconceito contra ele existia. Em uma palestra na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, usou corretamente uma forma verbal que, em geral, é usada incorretamente, e fez metalinguagem sobre o fato. Tudo se passou como ficou descrito pelo repórter, enviado especial da Folha de S. Paulo, para acompanhar o evento:
(02)
Vocês gostaram do interveio?
Em palestra, Lula ironiza erros de português atribuídos a ele.
Em palestra na Univap (Universidade do Vale do Paraíba), em São José dos Campos (SP), Luiz Inácio Lula da Silva tentou mostrar, com ironia, que nesta campanha não precisa de ajuda dos universitários para falar de acordo com a chamada norma culta da língua portuguesa. "Vocês gostaram do interveio, não é?", provocou o auditório, que foi às gargalhadas. "Pensavam que eu iria falar interviu, não?", declarou, depois de usar o verbo corretamente. Lula havia afirmado que o governo federal não interveio com boas medidas na economia. Segundo ele, o recurso irônico foi uma forma de falar sobre o preconceito de que sempre foi alvo desde a primeira campanha presidencial, em 1989. "Sempre me perguntava, meu Deus, será que não ganhei a eleição por não ter um diploma universitário? Será possível?" Disse que a pergunta sempre vinha à sua cabeça quando estava com amigos intelectuais, como o crítico literário Antonio Candido e a filósofa Marilena Chauí. Lula criticou a forma como os eleitores admiram os "doutores" da política. "O sujeito vai lá fora, fala várias línguas, e isso mexe com o ego dos brasileiros. O povo acha bonito", disse, sem mencionar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao final, respondeu a perguntas de universitários. Uma delas: "Eleito, o senhor vai fechar a Coca-Cola e o McDonald's?" A resposta: "Não. Eu adoro Coca-Cola e meus filhos e netos adoram McDonald's". Em Jacareí (SP), estreou óculos escuros ao visitar projetos da prefeitura. (Grifos nossos)
Como se observa também no exemplo, o preconceito com a linguagem carrega outros. Nesse caso, o social, cultural, já que o "paciente" sofria a discriminação pela falta da escolaridade superior para estar em igualdade de condições com seus adversários, ou seu principal adversário naquele momento, o na ocasião presidente Fernando Henrique Cardoso. A falta da educação formal refletia-se no uso da linguagem, em descompasso com aquela praticada pelos que passaram mais tempo na escola e que, por isso, pareciam praticar norma "mais correta", chamada culta. Os leitores do jornal, sempre atentos, não deixaram de se manifestar sobre o caso e reconhecer que o preconceito e a intolerância linguísticos existem. Vejamos o que disse o leitor Carlos Eduardo Castanheira sobre o fato acima comentado:
(03)
A ironia de Lula sobre a conjugação do verbo intervir (Brasil, pág. A5, 30/5) talvez ajude a pôr a nu a hipocrisia dos que se servem da dita norma culta (ah, essa dona Norma...) para humilhar milhões de brasileiros e para excluí-los da vida política e dos bens culturais.
O que é uma pena é esse conchavão com Quércia, Requião, PL...
Carlos Eduardo Castanheira (Palotina, PR) (Grifamos)
O leitor denominou hipocrisia o preconceito ou a intolerância linguísticos, cujo efeito, sem dúvida, é a exclusão. O que importa, contudo, é o reconhecimento, por parte dos usuários em geral, que a linguagem é fonte tanto de assimilação quanto de exclusão.
Outro exemplo significativo de preconceito é o de criação de neologismos, formalmente idênticos, por duas pessoas de status diferentes, uma, um sindicalista, outro, um professor universitário. Trata-se de Rogério Magri, ex-sindicalista e ex-ministro do Trabalho do governo Fernando Collor de Mello, e do, na época, agosto de 1993, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso
Todos se lembram que Magri, em 1990, quando ministro, disse que o Plano Collor I era "imexível", em referência à impossibilidade de o Congresso fazer mudanças no Plano. O novo adjetivo criado pelo então ministro suscitou quase uma polêmica linguística, porque muita gente se incomodou com a novidade, e os jornalistas se encarregaram de colher opiniões de professores de português, de gramáticos e de linguistas. Aqueles, dentre os quais o Prof. Napoleão Mendes de Almeida, condenaram sumariamente o neologismo e bradaram que havia, na língua, palavras como intangível e intocável, que dariam conta do que o ministro queria dizer, e que, em casos como esse, era o desconhecimento da tradição que impelia o falante à criação de novas palavras; esses, os linguistas, dentre os quais o Prof. Dino Preti, em São Paulo, e Evanildo Bechara, no Rio de Janeiro, deram explicações linguísticas ao problema: que era natural à língua o acréscimo de novas palavras e que aquela, imexível, era uma palavra bem formada, isto é, que seguia a regra de formação de adjetivos, pelo acréscimo de um prefixo (i-) a um adjetivo já formado (-mexível). Esse foi um fato muito comentado, motivo de muitas anedotas e muitas críticas à ignorância do ministro.
Três anos depois da criação do ministro sindicalista, o ministro acadêmico criou nova palavra. Fernando Henrique Cardoso, em 16 de agosto de 1993, disse "em discurso para cerca de 300 empresários no Rio, que a inflação ‘não é mais convivível'. Virou uma urticária: é preciso parar de coçar e fazer alguma coisa para acabar com ela'1". Dessa vez, a situação foi um pouco diferente, embora a discussão linguística tenha existido. A repercussão não foi a mesma do imexível, talvez em razão do prestígio (intelectual, social, político, econômico etc.) do segundo criador. A sociedade não se mobilizou tanto para comentar o "convivível", nem o adotou, ao contrário do que aconteceu com o "imexível", usado em algumas situações de comunicação, tanto que incorporada, primeiro ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), em 1999, e, depois, nos dicionários.
O "convivível" mobilizou minimamente os jornalistas. O repórter da Folha procurou, no mesmo dia da invenção linguística de FHC, dois professores da USP. Um, o Prof. Zenir Campos Reis, especialista em literatura brasileira e não em Linguística, que definiu a criação como "um tropeço", que poderia ser substituído por "convivência, indesejável, ou impossível". O outro foi o Prof. Dino Preti, que já havia dado seu parecer sobre o "imexível", como já mencionamos, e, do mesmo modo, esclareceu que, conforme escreveu o repórter, o ‘convivível' não existe, mas não fere a norma linguística. Disse ainda o professor, em discurso direto reproduzido no jornal: ‘Se o termo for aceito, passar a ser usado, pode acabar entrando no dicionário'. Não entrou.
O preconceito quanto ao julgamento desses dois casos fica muito claro na opinião de Reinaldo Azevedo, editor adjunto de política da Folha, na ocasião:
(04)
As palavras e as coisas
Ministro corre risco de optar pela poesia
Quando o ex-ministro do Trabalho Antonio Rogério Magri criou o seu ‘imexível', houve um certo escândalo entre os puristas. A ousadia verbal do então ministro - na verdade, reconhecida ignorância - era um sintoma. O que veio depois ficou por conta da crônica policial.
Temos agora o ‘convivível' de Fernando Henrique. Especialistas, depois dos permissivos anos 60, tendem a achar que tudo é possível. A língua, de fato, prevê um processo de formação de palavras - a derivação imprópria - pelo qual vocábulos de uma determinada classe gramatical demonstram eficiência em outra. Fernando Henrique, corajoso, avança como um Vasco da Gama do Português por mares nunca dantes navegados e acrescenta um tipo de derivação imprópria à sufixação. Vai, diria Fernando Pessoa, ‘além do Bojador'. É feio, mas dá nisso: convivível.
A língua costuma espelhar o que acontece na sociedade. Às vezes, radicais gregos e latinos são recuperados para expressar novas realidades. É raro. Quase sempre, o conjunto disponível é eficiente para traduzir realidades e pensamentos.
Pode acontecer, no entanto, de pensamento e realidade serem, de fato, intraduzíveis. Não porque haja lacunas na língua, mas porque o usuário mal compreende a realidade a ser designada ou seu próprio pensamento. Seria esse o caso do ministro: Tanto Fernando Henrique já falou sobre a inflação, que há o risco, real, de acabar concluindo que ‘a inflação é a inflação é a inflação'. Terá, nesse caso, rompido os vínculos com a função referencial da linguagem e penetrado no caudaloso e movediço terreno da poesia.
Para usar um eufemismo, podemos dizer que o texto do editor-adjunto beira o ridículo, além de ser pedante. O primeiro título, "as palavras e as coisas", alude ao livro do Michel Foucault, mas em situação redutora, porque o objetivo do filósofo é muito mais que falar da criação de palavras para representar a realidade e as idéias, é falar de representação de modo geral, é tratar do aparecimento do ‘homem' na história do conhecimento2; o segundo título, assim como o conteúdo a ele relacionado, é completamente descabido porque não tem nada que ver com aquela situação de criação do neologismo. A comparação de Fernando Henrique a Vasco da Gama, numa alusão à homenagem de Camões aos grandes feitos portugueses na conquista do mundo, é, sem dúvida, destituída de bom senso. A citação de Mar português de Fernando Pessoa é, assim como as outras, um despropósito para o caso. Para completar, a lição de gramática que o sábio jornalista dá para a decantada criação do ministro é equivocada. Não há derivação imprópria em casos como esses, houve, sim, uma derivação por sufixação, pelo acréscimo do sufixo -ível à base do verbo conviver, conviv + ível3.
O pior, todavia, não é nada disso. É o preconceito estampado. A paixão de Azevedo não lhe permitiu perceber que no mesmo texto deu tratamento diferente e discriminatório a dois atos iguais, emanados de pessoas diferentes, embora, sob certos aspectos, similares. A criação do ex-ministro Magri foi uma "ousadia verbal". Ousadia no sentido negativo, de falta de reflexão e imprudência, e não um ato de coragem, como foi caracterizado o ato linguístico idêntico de FHC. Ousadia, como explicado pelo próprio autor na oração parentética, no sentido de ignorância. Por que a diferença? Porque o autor, preconceituosamente, não soube avaliar com racionalidade os dois casos e estendeu para o ato, a criação dos neologismos, o julgamento que tem a respeito das pessoas. Não obstante o maior ou menor preparo intelectual dos criadores, foi a criação do homem menos prestigiado que ficou como contribuição linguística: o imexível está em circulação e o convivível desapareceu, por enquanto.
2. A intolerância
Agora, o objeto de nossa investigação são artigos de opinião veiculados pela imprensa. Escolhemos comentar discursos recentes, em que a dicotomia que os sustenta seja conhecimento x ignorância. Por acaso, ou não tão por acaso assim, o objeto desses discursos é o português, segundo essas vozes, "mal falado" do presidente da república, o que o incapacitaria para o desempenho de sua tarefa (cf. Leite, 2005).
Esse problema, que parece fácil de ser resolvido, é, em verdade, um enigma. Nosso objetivo, ao tratar disso, como já deve ter ficado claro para o leitor, não é defender posições, nem resolver a questão da norma linguística praticada no Brasil. Simplesmente, analisamos discursos metalinguísticos, manifestados em textos jornalísticos de diferentes gêneros, para mostrar como e por que certas atitudes linguísticas podem ser consideradas intolerantes. Examinaremos um artigo do jornalista Vinícius Torres Freire, também da Folha de São Paulo, em abril de 2004. Em artigos políticos, se há ocasião, se uma circunstância da realidade oferece oportunidade de a linguagem ser o mote do texto, e o jornalista a aproveita, o texto se constrói na trilha da crítica linguístico-discursiva, como no texto de Vinícius Freire, na Folha de S. Paulo, que passaremos a ler abaixo:
Preguiça "desgramada" e outras gafes
Vinícius Torres Freire
SÃO PAULO - Para as crianças, ler é tão desanimador como as caminhadas para os adultos sedentários: "dá uma preguiça "desgramada", disse o presidente Lula da Silva ao inaugurar a Bienal do Livro de São Paulo.
Lula não lê mais de duas páginas de relatórios, dizem assessores, gosta de piscina, churrasquinho, pelada e música sertaneja, samba, suor e cerveja. Não deixa, pois, de ter razão o realismo pedestre de Lula sobre a leitura. Preconceito? Não é o caso.
O presidente não é deus, como alertou, mas gosta de ser a voz do povo, um megafone de hábitos, trejeitos, preconceitos, utopias e até sabedorias populares. Tanto faz, a princípio, que Lula seja assim. O problema é que ele não consegue transcender seu realismo pedestre a fim de desempenhar o papel público de presidente, de transmitir uma visão mais racional e elaborada sobre as questões públicas. Limita-se às metáforas chãs, tem amor pelas mezinhas, pelas alegorias da vida de peão, sobre o companheiro que leva bronca da patroa por ter parado no botequim para a cervejinha.
Esse bestiário da vida operária não dá conta do debate democrático, o metaforismo popular não é capaz de traduzir questões de governo para o povo pobre. É apenas demagogia, talvez não intencional: Lula é o que parece ser. Transmite seus preconceitos sem pejo ou mesmo consciência do que faz, como no caso da gafe sobre a leitura e tantas outras.
Depois de tal gafe, veio o complemento habitual dos discursos de Lula: tal e qual problema é grave, mas "temos de ter políticas", no caso "para garantir que a criança adquira o prazer de leitura". Tal como um Policarpo Quaresma ou um Quincas Borba operários, Lula tem espasmos frequentes de palanquismo salvacionista, de criar emplastros cura-tudo, de planos para redimir a república.
Já vimos os falidos Fome Zero, Primeiro Emprego, bolsa-fogão e tantos outros. Agora, Lula quer criar frentes de trabalho, engajar recrutas para dar-lhes uma profissão para a qual não haverá emprego. Quando Lula convocará os sem-terra para construir pirâmides keynesianas?
Isso é Lula, apenas um homem só. Mas que país é esse em que um governo tanto pode ser a encarnação dos modos desse homem?
O que interessa ressaltar desse e de muitos outros textos sobre a linguagem do presidente não é, como já dissemos, o problema de sua competência linguística, mas o fato de os problemas linguísticos serem sempre o argumento mais forte para a desqualificação da pessoa biográfica, Luís Inácio Lula da Silva, ou política, o Presidente da República. A crítica linguística, nesse caso, não aparece desvinculada do interesse político. Nesse texto, o próprio jornalista contra-argumenta com o leitor (como nós, por exemplo) que viesse a se perguntar: afinal, isso não é preconceito? se o homem falasse de outro modo seria melhor presidente? haveria menos corrupção em seu governo? faria menos promessas vazias? seria uma pessoa mais honesta, justa e cheia de bondade? Certamente não. Por isso, pergunta-se o jornalista: "Preconceito?", ao que ele mesmo responde sem rodeios: "Não é o caso". Não é preconceito, realmente, é mais que isso, é intolerância. O fato que confirma tal interpretação é o de o jornalista concluir, depois de deixar pressuposta a incapacidade linguístico-discursiva do presidente, que "Lula é o que parece ser", ou seja, minúsculo, ridículo, inadequado... e tudo o que a crítica, como tecida, leva o leitor a inferir. Esse é o fato aqui denunciado, não a crítica à linguagem, o que quer dizer que nada haveria de errado se, simplesmente, suas dificuldades com a norma culta fossem apontadas, comentadas ou criticadas, analisadas.
Como é fácil deduzir, o motivo principal dessas crônicas não é constituído simplesmente por falhas gramaticais dos usuários, mas também por falhas discursivas. No caso do último exemplo, foi a inadequação da palavra escolhida pelo presidente para se referir à dificuldade de leitura pelas crianças, e as metáforas banais que emprega.
A lógica "não sabe pensar não sabe falar" está muito presente no imaginário popular e pode ser observada em muitas situações. Para mostrar isso, transcrevemos um e-mail copiado do blog dos estudantes da USP, escrito durante o ato político de ocupação da reitoria, em maio de 2007, em que uma leitora se refere indignada à linguagem, e muito mais ao conteúdo, de outros leitores que apresentavam opiniões contrárias ao ato, conforme se vê a seguir:
Comento no meu 1º mail não a foto, fantástica, de professores reunidos com alunos, num momento importante de reflexão, mas é um comentário indignado com os comentários aqui relacionados! linguagem daqueles que não pensam, portanto não sabem falar, escrever, ler, refletir. Parabéns caros alunos pela força, pela luta! Resistam!! Estarei torcendo bravamente!! Samira Peduti Kahil
A leitora escreveu essa mensagem no espaço do comentário de uma foto em que alguns professores da USP foram à Reitoria, onde os estudantes estavam acampados, para fazer um seminário. O que ela queria mesmo era comentar o conjunto de mensagens que outros leitores haviam deixado no blog, muitos com palavras duras contra o movimento estudantil, por meio de um nível de linguagem comum em mensagens eletrônicas de jovens. Pelo que percebemos, a leitora recorreu ao argumento mais fácil e comum para atingir os missivistas: atacar a linguagem em que se manifestaram, e, nesse momento, foi intolerante e misturou a avaliação linguística às diferenças ideológicas.
Conclusão
Para concluir, podemos dizer que evitar o preconceito linguístico, assim como todos os outros, é possível se se tomarem precauções relativas aos sentimentos positivos e negativos que se tiver, previamente, em relação às pessoas e, consequentemente, à sua fala.
Evitar a intolerância é possível, se a sociedade puder desfrutar de boa educação, inclusive a linguística, e estiver, conforme o conceito de Adorno (1971), orientada contra a barbárie, contra o impulso de destruição que tem dominado as pessoas. Libertar-se da barbárie é resistir sem destruir, sem ofender, sem agredir pela linguagem ou pelas ações.
Referências bibliográficas
ADORNO, Theodro W. Educação e emancipação. 3 ed. trad. do alemão de Wolfang Leo Maar. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 2003. [1971]
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. do italiano por Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, 1992. [1990]
BECHARA, Evanildo. Imexível. D. O. Leitura. São Paulo, Imprensa Oficial, 09/06/1990, p.8.
DASCAL, Marcelo. Tolerância e interpretação. In: DASCAL, Marcelo (org.) (1989). Conhecimento, linguagem, ideologia. São Paulo : Perspectiva/EDUSP, 1989. Col. Debates.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas - uma arqueologia das ciências humanas. Trad. do francês de Salma Tannus Muchail. São Paulo : Martins Fontes, 2002. [1966]
HALLIDAY, M. K. et. al.. Os usuários e os usos da língua. In: _______. As ciências lingüísticas e o ensino de línguas. Trad. Myriam F. Morau. Petrópolis : Vozes, 1974.
LANDOWSKI, Eric. Présences de l'autre. Paris : PUF, 1997.
LEITE, Marli Quadros. Intolerância e linguagem: um estudo de caso. Rev. Anpoll, n. 14, p. 175-188, jan./jun, 2003.
_________. Intolerância lingüística na imprensa. Linha d'Água, 2005, n. 18, p. 81-96, dezembro.
_________. Variação lingüística: dialetos, registros e norma lingüística. In: SILVA, L. A. (org.). A língua que falamos. Português: história, variação e discurso. São Paulo : Globo, 2005a.
_________. Preconceito e intolerância na linguagem. São Paulo : Contexto. [Publicação prevista para abril de 2008]
MARCUSE, Herbert . Tolerância repressiva. In: MARCUSE, Herbert; WOLFF, Paul; MOORE, Barrington. Crítica da tolerância pura. Rio de Janeiro : Zahar, 1969.
PERELMAN, Chaïm; TYTECA-OLBRECHTS, Lucie. Tratado de argumentação - a nova retórica. 2 ed. Trad. do francês por Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo : Martins Fontes, 2005. [1ª ed. francesa 1992]
ROUANET, Sérgio Paulo. O eros da diferença. Folha de S. Paulo, Mais, 9 de fevereiro, 2003
VOLTAIRE. Dicionário filosófico. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo : Martin Claret, 1994. [1764]
1 Folha de S. Paulo, 17/08/1993, C1, p.7.
2 Foucault (2002 [1966]).
3 Conforme esclarece Câmara Jr. (1988), a derivação imprópria ocorre quando uma nova aplicação da palavra decorre da construção frasal e não da mudança da forma por estruturação com sufixo.