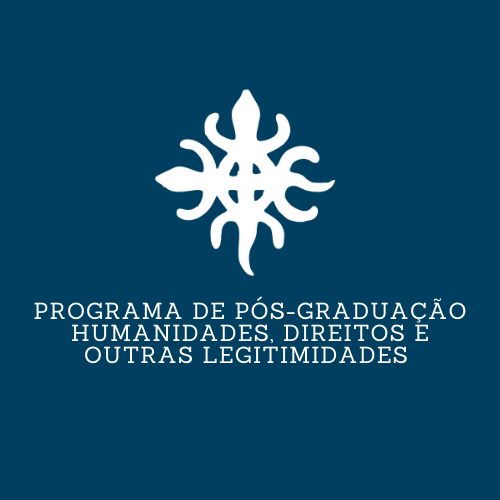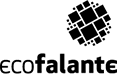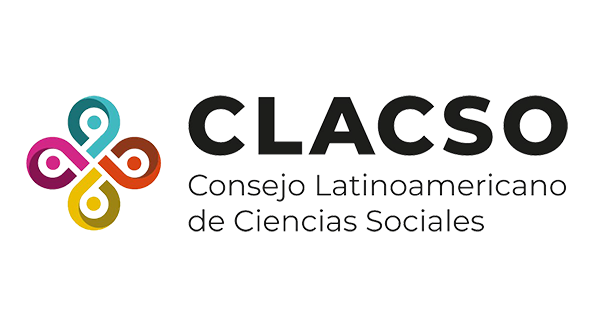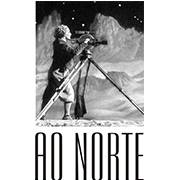Daniela Buono Calainho
A Europa do Renascimento estava convicta na ação de Demônios e bruxas, deixando entrever um universo onde os limites entre o real e o imaginário, o possível e o impossível eram tênues. Abarcando todas as categorias sócio-culturais, a mentalidade mágica fazia supor a crença em indivíduos com poderes de curar, fazer mal, matar, induzir ao amor, destruir colheitas. Homens, como o francês Jean Bodin por exemplo, teórico do Estado absolutista e da economia política, era também, por outro lado, crédulo absoluto das artes das bruxas, afirmando que "duvidar que o Diabo transporta os feiticeiros de um lado para o outro, equivale a ridicularizar a história evangélica"[1].
A Baixa Idade Média foi momento de grande transformação espiritual no Ocidente e, particularmente em relação à feitiçaria, associou as práticas mágicas pagãs, de tempos imemoriais, à ação demoníaca. Nascia, pois, a demonologia, "as ciências do diabo", que pouco a pouco ganhava força, originando numerosos tratados marcantes na configuração de uma doutrina teológica que, ao mesmo tempo, foi objeto de grandes reflexões, grandes temores e inquietações. Sua assimilação à heresia consagrou-se pela Bula Super illius specula, de 1326, que possibilitou à Inquisição realizar as perseguições a partir daí[2].
O auge do movimento de violenta repressão à bruxaria europeia, de um modo geral, ocorreu entre 1560 e 1630, e todo este movimento foi acompanhado por uma vasta quantidade de publicações sobre o tema, com devido destaque para o norte e o centro da Europa[3]. Só na França, na segunda metade do século XVI, foram escritos por teólogos e juristas mais de 30 tratados[4].
Marco significativo desse processo persecutório foi a publicação, em 1486, do famoso Malleus Maleficarum, de autoria dos dominicanos Henri Kramer e Jacob Sprenger, cuja repercussão e difusão pela Europa, ao longo dos séculos XVI e XVII, foi estupenda. Enfatizou a ação real das bruxas, vendo-as como integrantes de uma seita, arrolou suas atribuições, instruiu como combatê-las, como processá-las por heresia e hierarquizou demônios.
O caso português foi bastante atípico no que concerne à história da feitiçaria europeia, tanto em termos da intensidade das manifestações e da repressão, como também em relação à produção literária sobre o tema. O problema da bruxaria no Reino não mereceu, como no resto da Europa, uma vastidão de tratados e textos que a discutissem.
Se fôssemos pensar nos elementos que marcaram a feitiçaria europeia, como as reuniões festivas das bruxas com o Diabo - chamadas de Sabás -, o vôo noturno, a tranformação em animais e as orgias sexuais, a noção de pacto diabólico individual, foi de longe a que marcou presença efetiva no pensamento letrado português: eclesiástico, legal ou secular. A ideia de pacto demoníaco foi crucial na construção da feitiçaria como heresia. Especificidade dos Tempos Modernos, abriu as portas da punição à justiça secular e inquisitorial, esta última particularmente obcecada em constatar o contrato diabólico, fonte última dos poderes adquiridos pelos feiticeiros.
De um modo geral, o conjunto dos textos descreve o pacto como ocasião em que o Diabo seduzia o indivíduo com poderes sobrenaturais, riquezas, habilidades curativas ou dotes divinatórios, em troca de sua subserviência, de sua alma, expressando-se o compromisso por alguns símbolos exigidos pelo Demônio, como sangue, partes do corpo, como dedos e unhas - e outros ofertados ao seu futuro servo, como anéis.
O pânico desenfreado vivido pelas autoridades civis e eclesiásticas frente a Satã e seus seguidores, no auge das perseguições, era evidente, alardeando-se numa profusão de discursos de toda natureza, em várias regiões.
O pacto demoníaco como fundamento básico de todos os atos mágicos ilícitos, era senso comum e mereceu de alguns autores a diferenciação entre explícito, quando o indivíduo dirigia-se ao Demônio pessoalmente, ou então implícito, quando o Diabo era invocado por palavras ou atos significativos[5]. A lógica da Inquisição portuguesa no tocante à perseguição à bruxaria e às práticas mágicas centrava-se nesta relação, sendo inúmeros os exemplos neste sentido.
Importou ao Santo Ofício muito mais a ação quotidiana do Diabo, agindo em meio às ervas e instrumentos dos curandeiros; junto a mulheres, soprando-lhes feitiços amorosos; adivinhando o futuro e encontrando coisas e dando força em patuás de proteção. O pacto construiu-se nas sessões de arguições inquisitoriais a partir das crenças e práticas dos feiticeiros, resultando assim de um complexo de trocas culturais e religiosas que acabaram por formular a feitiçaria como heresia, objeto, portanto, da repressão do Santo Tribunal [6].
A Inquisição foi a instância repressiva que produziu documentação mais abundante sobre réus condenados por feitiçaria, o que pode representar, de fato, uma ação bem mais incisiva, em comparação aos tribunais civis portugueses e episcopais. No rol dos delitos que constavam da bula papal que instituiu o tribunal do Santo Ofício português, em 1536, além do judaísmo, do luteranismo e do maometanismo, estava a feitiçaria, incluída no primeiro monitório inquisitorial, expedido neste mesmo ano[7].
Mas foi apenas no Regimento de 1640 que efetivamente se dispôs e se penalizou aqueles que fossem feiticeiros, adivinhadores, praticassem sortilégios e superstições envolvendo elementos cristãos (hóstias, pedra d'ara, dentre outros) e evocassem o Demônio, tendo pacto com ele e fazendo-lhe sacrifícios[8]. Estabeleceu-se, desse modo, o corpus legislativo inquisitorial que iria reger em Portugal toda a repressão à feitiçaria pelo Santo Ofício até 1774, quando o último Regimento desta instituição não mais viu todas estas práticas mágicas como inspiradas pelo Diabo, e portanto resultantes de um pacto[9]. Foram os novos tempos, de transformações levadas a cabo pelo Marquês de Pombal no Reino, portanto, que fizeram por declinar enormemente o número de processados[10].
O crime de feitiçaria no Império português já foi devidamente quantificado, estando num patamar bem pequeno em relação ao conjunto dos delitos heréticos da alçada inquisitorial, ao longo de toda a existência do Tribunal. Para o século XVI, o historiador Francisco Bethencourt levantou que a feitçaria correspondeu a 10,3% em relação ao total de processos neste período. Já José Pedro Paiva, estudando os casos de bruxaria em Portugal nos séculos XVII e XVIII, afirma que este percentual cai para 3,6% do total. Diante de todos estes dados, é notória a brandura da Inquisição portuguesa frente à bruxaria, justificada por Francisco Bethencourt pela posição deste delito em relação à hierarquia de heresias articuladas pelo Santo Ofício, e ainda pelo modelo de propagação do cristianismo em Portugal nos Tempos Modernos.
Apesar desse delito constituir uma minoria no conjunto do furor persecutório do Santo Ofício, o fundamental é que muito se pôde resgatar da religiosidade africana em Portugal a partir destas fontes, e ainda perceber o discurso inquisitorial em relação aos cultos e crenças dos negros e à consequente perseguição e demonização destas práticas.
Muitos africanos e seus descendentes, em Portugal e no Brasil, foram apanhados pelas instâncias de poder eclesiásticas, imbuídas que estavam em defender a cristandade católica e extirpar as superstições e crendices que permaneciam vivas no conjunto da população portuguesa[11]. O olhar atento do Santo Ofício arrastou vários negros escravos e forros para os cárceres da temida "Casa do Rocio" onde, por vezes, muitos perdiam sua sanidade mental e até a própria vida[12]. A Inquisição portuguesa devastou vidas metodicamente: prisões, processos, inquirições, esperas, incertezas, temores, sentenças e condenações, cujo palco foram os apavorantes e festejados autos-de-fé, que aglutinaram milhares de pessoas no terreiro do Paço ou na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Os que escapavam de arder nas fogueiras morriam socialmente e arrastavam, silenciosos, mazelas físicas e emocionais
Mas deixando de lado os destinos trágicos dessas vidas, olhemos para o que o Santo Ofício nos legou, para uma melhor compreensão de muitos aspectos da sociedade colonial, ao considerar como heréticas determinadas crenças, práticas e comportamentos. A narrativa acusatória - neste caso, os processos e denúncias inquisitoriais, - vai fornecer pistas importantes sobre o universo das crenças dos negros e, evidentemente, o próprio discurso do poder sobre elas[13].
Vejamos alguns exemplos de manifestações mágico-religiosas, tidas por feitiçaria no Brasil, que marcaram a presença dos africanos e seus descendentes, mas que foram objeto das perseguições inquisitoriais:
Citemos inicialmente os calundus, reuniões frequentes na Bahia e Minas, onde se dançava e pulava ao som de instrumentos de percussão, às vezes com defumações, e à certa altura um ou outro entrava em transe, perdendo os sentidos ou falando em nome de espíritos, visando realizar curas, adivinhações ou cultuar ídolos e outros objetos. Vale mencionar aqui que o Prof. Luiz Mott é autor de alguns importantes artigos sobre o tema, escritos com base em documentação inédita e reveladora sobre este rito no Brasil.
Nuno Marques Pereira retratou bem este rito no seu Compêndio narrativo do peregrino da América, publicado em 1728. Em meio às suas andanças por Bahia e Minas, hospedou-se ele no engenho de um rico senhor. Mas foi impedido de dormir pelo barulho ensurdecedor que vinha da senzala. Explicaram-lhe que acontecia um calundu. "Que cousa é calundu?", perguntou ao proprietário, que respondeu: "São uns folguedos ou adivinhações que dizem estes pretos que costumam fazer nas suas terras, e quando se acham juntos também usam deles cá, para saberem várias cousas, como as doenças de que sofrem, e para adivinharem algumas cousas perdidas, e também para terem ventura em suas caçadas e lavouras, e para outras cousas". Indignado, Nuno mandou chamar o líder da cerimônia: "Pois eu vos quero explicar (lhe disse eu), pela etimologia do nome, o que significa. Explicado em português e latim, é o seguinte: que se calem os dois. Calo duo. Sabeis quem são estes dois que se calam? Sois vós e o Diabo. Cala o Diabo, e calais vós o grande pecado que fazeis, pelo pacto que tendes feito com o Diabo; e o estais ensinando aos mais fazendo-os pecar, para os levar ao Inferno quando morrerem, pelo que cá obraram junto convosco".
Outra manifestação do que o Santo Ofício considerou como feitiçaria na colônia foram as artes curativas praticadas pelos africanos, posto que inspiradas pela mão do Diabo, e portanto objeto de processos inquisitoriais. Segundo a historiadora Laura de Mello e Souza, os negros foram considerados, junto com os indígenas e mestiços, os grandes curandeiros do Brasil colonial pelo fato de serem hábeis manipuladores de ervas, de substâncias de origem animal (em particular de frangos e galinhas), alimentos e líquidos diversos, excrementos e fluidos corporais, cabelos, unhas e cadáveres. Sua clientela se compunha em geral de indivíduos das camadas mais humildes, fossem brancos ou negros, e o que as fontes consultadas sugerem é que o apelo aos africanos funcionava como uma espécie de última alternativa de cura, sendo chamados até por padres e médicos. Numa época em que os profissionais da medicina oficial não existiam em grande número, era habitual este apelo.
O ex-escravo Francisco Antônio era um curandeiro afamado na região das Minas Gerais em meados do século XVIII. Numa bacia cheia de água, com guizos, búzios, dedais e algumas pedras negras, ele dizia poder ver as moléstias e supostos feitiços daqueles que o procuravam. Proferia diante da bacia algumas palavras na língua de sua terra natal, a Costa da Mina, tirava um dos dedais, passava-o no corpo do "enfermo", punha-o na boca e cuspia uma substância que dizia ser o feitiço ou a doença. Finalizava o tratamento com beberagens feitas de ervas variadas, ovos e aguardente.
O jesuíta Antonil, em seu Cultura e opulência do Brasil, de inícios do século XVIII, advertia os senhores de engenho para que moderassem os castigos aos escravos, pois do contrário eles poderiam fugir, suicidarem-se ou então se vingarem de seus algozes, enfeitiçando-os de várias maneiras. Mas nem toda feitiçaria era uma forma de resistência à escravidão: a escrava Francisca, no Maranhão de 1730, foi denunciada à Inquisição por manter uma mão de defunto e ossos humanos debaixo da cabeceira de sua senhora para fazê-la dormir e assim acalmá-la...
Também caracterizou os feiticeiros a habilidade que tinham em realizar os procedimentos mais diversos para a conquista amorosa, para afastar amantes, atrair homens e mulheres. Em Mariana, Minas Gerais, no ano de 1774, a mulata Josefa Maria Soares foi denunciada à Inquisição por ter uma caveira enterrada na porta de sua casa e manter outra, da qual retirava pequenos pedaços para fazer um pó que misturava a alimentos oferecidos a homens por ela pretendidos. Também para este mesmo objetivo misturava algumas ervas à terra da sepultura de defuntos, a partes do cérebro de cachorros, de frangos e de pombos, e enterrava orações molhadas em vinho e passadas no fogo para manter seus relacionamentos.
Outra importantíssima manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os amuletos protetores conhecidos como "bolsas de mandinga". O sentimento de insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres, o costume foi corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Feitas de couro, veludo, chita ou seda, as bolsas continham ingredientes variados, como ossos de defuntos, desenhos, orações católicas impressas, sementes, dentre outros apetrechos, mesclando diversas tradições culturais.
Nenhum processo contra negros ou mestiços feiticeiros mereceu a pena da fogueira, mas as demais sentenças inquisitoriais, entretanto, embora não levassem à morte imediata, por vezes destruíam o indivíduo física e emocionalmente. Jogados nas prisões durante anos, expostos à execração pública, degredados para regiões inóspitas ou condenados a trabalhos forçados, dificilmente resistiam às situações que a "misericórdia" inquisitorial lhes garantia. E neste sentido, podemos considerar que o Tribunal do Santo Ofício, por intermédio da feitiçaria, foi instituição que promoveu um significativo processo de desestruturação social da comunicada africana, tanto em Portugal como no Brasil.
[1] Apud Luiz Mott, "Etnodemonologia: aspectos da vida sexual do Diabo no mundo ibero-americano (séculos XVI ao XVIII)". In: Luiz Mott, Escravidão, homossexualidade e demonologia. São Paulo: Ícone, 1988, p.139.
[2] Jean Delumeau, História do medo no Ocidente. 1300-1800: Uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p.352.
[3] "E formou-se rapidamente um corpo de doutrina teológica onde a velha bruxa já não aparece como um ser possuído por fantasias e ilusões perversas, ou como a adepta dos velhos cultos idolátricos, mas simplesmente como a serva do Demônio, um Demônio fisicamente semelhante ao das assembléias mais ou menos lendárias, como a de Teófilo, ou mais reais como a de Stendinger". J.C. Baroja, . As bruxas e seu mundo. Lisboa: Vega, s/d., p.116.
[4] Robert Mandrou, Magistrados e feiticeiros na França do século XVII. São Paulo: Perspectiva, 1979.
[5] Antônio da Anunciação e Gabriel Pereira de Castros são autores setecentistas que fizeram esta diferenciação. José Pedro Paiva, Bruxaria e superstição num país sem "caça às bruxas". 1600/1774. Lisboa: Notícias Editorial, 1998, p.38.
[6] "O sabá não foi criação de demonólogos, pesadelo de uma elite apavorada: a interpretação de cunho mais cultural e antropológico, voltada para a análise do mito, mostra, ao contrário, que ele se construiu a partir de trocas intensas entre universos culturais diversos e socialmente distintos". L. de M. e Souza, O Diabo e a terra de Santa Cruz. Feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p.161.
[7] Os monitórios, afixados nas portas de igrejas, eram relações de práticas e crenças tidas por heréticas, que visavam notificar à população o que devia ser objeto de confissões e/ou denúncias. Ver F. Bethencourt, História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália. Lisboa: Temas e Debates, 1996, pp.149/150.
[8] Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal ordenado por mandado do Ilustríssimo e reverendíssimo senhor Bispo, Dom Francisco de Castro, Inquisidor-Geral do Conselho de Estado de Sua Majestade - 1640, Livro III, Título XIV. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, p.854/857.
[9] Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal, ordenado com o real beneplácito e régio auxílio pelo eminentíssimo e reverendíssimo senhor cardeal da Cunha, dos Conselhos de Estado e do Gabinete de Sua Majestade, e Inquisidor Geral nestes Reinos e em todos os seu domínios - 1774, Livro III, Título XI. Idem, pp.885/972.
[10] J.P. Paiva, Op.cit, p.88.
[11] Luiz Mott, Heréticos e negros da cor do Diabo. In Diário do Sul, Porto Alegre, Suplemento Especial "Abolição 100 anos", 1988. Este autor calcula que em torno de mil negros e mestiços integraram cadernos de denúncia, limitando-se, no entanto, a duzentos ou trezentos aqueles que chegaram a ser processados.
[12] Uma das poucas descrições dos cárceres inquisitoriais nos dá ninguém menos do que o Pe. Vieira: "Nestes cárceres estão de ordinário quatro e cinco homens e às vezes mais, conforme o número de presos que há, e a cada um se lhe dá seu cântaro de água para oito dias (...) e outro mais para urina, com um serviço para as necessidades, que também aos oito dias se despejam, e sendo tantos os em que conservam aquela imundície é incrível o que neles padecem estes miseráveis, e no verão são tantos bichos que andam os cárceres cheios, e os fedores tão excessivos, que é benefício de Deus sair dali homem vivo. E bem mostram os rostos de todos quando saem dos autos, o tratamento que lá tiveram, pois vêm em estado que ninguém os conhece". Apud José Lourenço D. Mendonça, e Antônio J. Moreira, História dos principais actos e procedimentos da Inquisição em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1980, pp.383/386. Apud Laura de Mello e Souza, Op.cit., p.327.
[13] "Os processos criminais são instrumentos importantes para a construção do saber sobre os "crimes" que supostamente se quer extirpar. Esse saber, ao mesmo tempo construído a partir dos depoimentos e fragmentos do processo, acaba vindo a constituir a própria crença". Yvonne Maggie, Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, p.87.