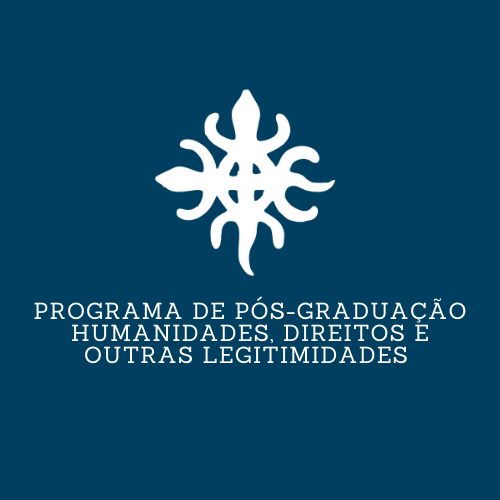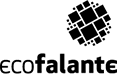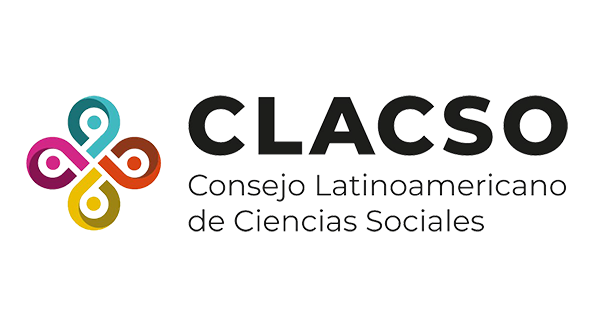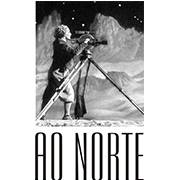Ronald Beline
Introdução
Desenvolver um fórum para estudar e discutir a intolerância, nas suas diversas manifestações, é o interesse básico do pioneiro Laboratório de Estudos da Intolerância (LEI-USP), de que participam professores e pesquisadores de diversos setores da área de Humanidades da Universidade de São Paulo, sobretudo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Tem lugar nesse laboratório, portanto, o estudo das relações entre intolerância e usos da linguagem; ou seja, os estudos linguísticos, assim como os filosóficos, sociológicos, históricos, geográficos e psicológicos, têm a sua contribuição a dar ao LEI.
Nesse artigo, apresenta-se um estudo preliminar que traz, no seu pano de fundo, questões de intolerância com respeito a gênero/sexo, via usos da linguagem. Mais especificamente, apresentam-se aqui os primeiros resultados de um trabalho de pesquisa que examina o que é percebido como "gay" na fala masculina em São Paulo. Enquanto estudo preliminar, esse artigo não traz ainda uma discussão de questões de intolerância propriamente, pois é necessário que antes se entendam quais usos linguísticos são socialmente interpretados como índices de uma identidade "gay". Em outras palavras, o modo como falamos é abordado como um dos indicadores de nossa identidade social, já que traz dados de nossa procedência regional, de classe, de escolaridade e também de sexo/gênero; assim, é necessário desvendar que dados linguísticos são esses - usados mais ou menos conscientemente nas nossas interações sociais; constantemente percebidos e avaliados por nós e por nossos interlocutores. De uma perspectiva sociolinguística, uma análise interdisciplinar da intolerância com respeito ao modo como as pessoas falam não é viável sem a prévia descrição e análise linguística dos falares em foco.
Bases Teóricas
A performance linguística e a expressão ou construção de uma identidade social estão ligadas por uma via de mão dupla. A linguagem é portadora de significados simbólicos e sociais, e os falantes se dão conta de tal propriedade, valendo-se de sua linguagem para fins sociais. Cabe demonstrar que a variação no estilo de linguagem permite-nos ter acesso às variantes linguísticas que um determinado falante está empregando em determinado momento e situação, bem como às funções sociais específicas que tais variantes desempenham. Para uma descrição das bases teóricas desse trabalho, primeiramente vamos deter-nos na associação entre uso da linguagem e significado social, para depois passar à questão da variação no estilo de linguagem.
Labov (1966) mostrou que variantes linguísticas discretas podem veicular informações sociais que caracterizam o sujeito-falante. Tais variantes podem ser mapeadas numa estratificação social mais ampla, caracterizando o grupo de indivíduos que as empregam. No esforço por desenvolver uma teoria social da linguagem, os sociolinguistas começaram a explorar a possibilidade de que as variantes linguísticas não apenas caracterizam a linguagem de um certo grupo social, mas também podem ser usadas por indivíduos que queiram indicar sua afiliação a uma determinada comunidade. O exame desse caráter de "índice" que os usos da linguagem podem ter já chegou a ser feito por Trudgill (1974) e Milroy (1980) - em estudos da fala da classe operária de Norwich e Belfast, respectivamente -, e por Bell (1984), que estudou a linguagem dos noticiários de rádio em Auckland, Nova Zelândia. No Brasil, inúmeros estudos foram desenvolvidos nessa linha; Naro & Scherre (1996, 2003) estão entre os mais conhecidos e divulgados internacionalmente.
Trudgill (1974), em seu exame da pronúncia variável do -ing em final de palavra, observou que os homens alegavam com insistência que usavam a variante não padrão [In], enquanto que as mulheres preferiam empregar a variante padrão [I]. Essa descoberta ilustra o fato de que os falantes de uma língua fazem avaliações acerca dos seus diferentes estilos de fala e que têm consciência delas. Em seu estudo, Trudgill demonstra que o emprego de uma variante bem como a avaliação de seu emprego, sobretudo no caso dos homens, serviam ao propósito de marcar sua pertinência a um determinado grupo social, atestando a associação simbólica entre linguagem e comunidade. O autor reconhece que determinados "modos de falar" detêm prestígio social e dá uma das primeiras contribuições para os estudos da linguagem como meio de construção de identidade.
Milroy (1980) introduziu nos estudos sociolinguísticos a noção de redes sociais. Em seu estudo de três comunidades operárias de Belfast, a autora argumenta que as propriedades que caracterizam a rede social de um indivíduo influenciam sua performance linguística. Ela também afirma que as redes sociais mais densas - aquelas em que todos os membros se inter-relacionam intensamente e interagem uns com os outros numa diversidade de situações - constituem um mecanismo poderoso de normatização de sua fala. Tal mecanismo acaba desempenhando papel decisivo na homogeneização de crenças e práticas sociais dentro do grupo, o que obviamente inclui as práticas linguísticas. Está implícita nessa noção a consciência, tanto da parte dos indivíduos como da parte da comunidade, das práticas sociais que os definem ou que os caracterizam. A conformidade com o padrão linguístico que define o grupo requer a percepção do que constitui um padrão, além da noção de que a linguagem funciona como "índice" de afiliação social dos indivíduos a seu grupo.
Bell (1984), em seu exame da linguagem dos noticiários de rádio em Auckland, analisou a variação no nível individual como um processo que ele chama "Design da Audiência", a partir do que se reconhece como "Teoria da Acomodação". O princípio básico dessa teoria é o de que um falante pode optar entre acomodar-se à fala de seu interlocutor - assemelhando sua performance linguística à dele - ou distanciar-se dela. Essa escolha tem significação social no contexto discursivo e indica solidariedade ou distinção social, respectivamente. A acomodação linguística é analisada como uma resposta sob a forma de mudança no estilo de falar, na qual o interlocutor adota práticas linguísticas variáveis com base na linguagem do outro. Bell (1984) generalizou tal noção numa teoria de "alternância de estilo"1, de modo que a variação observada no nível individual pode ser quantitativamente correlacionada ao interlocutor ou ao tópico da conversa.
A teoria de Bell 1984 está fundada no "Axioma do Estilo", de acordo com o qual a variação observada na fala do indivíduo mimetiza a variação observada entre dois grupos sociais. Em outras palavras, o estilo de linguagem deriva seu significado social da avaliação que o falante faz das relações entre traços linguísticos e grupos sociais. Apesar de manter a generalização de que as comunidades de fala são caracterizadas por traços linguísticos específicos, e a de que ambos são socialmente avaliados pelo falante, a teoria de Bell (1984) é inovadora na medida em que traz a noção de que os próprios falantes podem, individualmente, variar seu estilo de fala a fim de atingir diferentes objetivos sociais. Se os falantes podem adotar traços linguísticos socialmente marcados no intuito de evidenciar sua associação ou dissociação diante de seu interlocutor (unitário ou coletivo), a teoria do "Design da Audiência" nos dá acesso ao papel do indivíduo na construção da identidade linguística.
Se, por um lado, todos esses desenvolvimentos teóricos rapidamente revistos acima fornecem-nos um bom modelo para a implementação de uma linguagem socialmente marcada, por outro lado eles deixam a desejar no que diz respeito ao desenvolvimento das diversas avaliações que os fatos linguísticos podem permitir. Entretanto, essa lacuna vem sendo preenchida mais recentemente, por trabalhos sobre a interação entre linguagem e ideologias sociais. A teoria da indexação de Ochs (1991) oferece um modelo de análise das relações entre linguagem e identidade, no qual traços linguísticos funcionam como "índices" de ideologias sociais. De acordo com essa autora, a relação entre variantes e identidades é indireta, e, por isso, são raras as variantes linguísticas que funcionam como "índices" de uma única e exclusiva identidade social. Para ela, tais variantes funcionam antes como "índices" de atitudes, estâncias, atividades, que por sua vez estão associadas a categorias sociais. A redução de -ing para [In] no inglês, por exemplo, pode ser um índice de informalidade, mas a variável está certamente ligada a categorias mais abrangentes - tais como classe econômica e gênero - através das diferentes "personas" que os falantes constroem nos diferentes lugares da ordem social.
Neste percurso bibliográfico, observa-se o desenvolvimento de uma teoria rigorosa sobre os modos como o significado e a avaliação social são mapeados em cima da estrutura linguística. A isso deve-se juntar a consideração de que os falantes-indivíduos têm consciência dessa propriedade da linguagem, e manipulam-na para a construção de sua identidade social. Ampliando sua própria teoria, Bell (2001) considera a possibilidade de que o indivíduo pode desempenhar mudanças no seu estilo de fala não apenas como uma "resposta" ao seu interlocutor real (de acordo com a teoria do "Design da Audiência"), mas também pode fazê-lo por acomodação a um tópico e/ou interlocutor não presentes no contexto de fala. Ou seja, mais uma vez, o indivíduo num dado contexto de fala faz uso de seu conhecimento da relação entre traços linguísticos e identidade social, adotando marcas linguísticas para "indexar" sua afiliação a um determinado grupo.
A partir dessas teorias sobre as relações entre linguagem e identidade social, na primeira fase da pesquisa que aqui se apresenta, pretende-se identificar as variantes linguísticas que operam especificamente na construção de uma identidade masculina gay. Vários trabalhos dessa natureza - que se dedicam ao estudo da identidade gay masculina de um ponto de vista antropológico e sociolinguístico - já foram desenvolvidos no universo da língua inglesa, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá (Cf. Kulick, 2000, para uma revisão dos trabalhos). Entretanto, de acordo com Levon (2003), nem mesmo naquela língua foram satisfatoriamente desenvolvidos trabalhos que estabelecem a correlação proposta acima. No Brasil, por sua vez, não há notícia de que qualquer estudo nessa linha já tenha sido feito.
Em geral, parece ser comum a consideração de que "soar gay significa falar de maneira efeminada" (Wolfe, Ratusnik, Smith & Northrop, 1990) ou "afetada" (Rogers & Smyth, 2001 e 2003). Entretanto, a pesquisa sociolinguística sobre este tópico já identificou numerosos traços lexicais, discursivo-pragmáticos e fonológicos que parecem estar correlacionados com a expressão de uma identidade gay masculina (Gaudio 1994, Rogers, Jacobs & Smyth 2003, Podesva 2004). Em inglês, as variáveis mais comumente focalizadas são a duração das fricativas sibilantes /s/ e /z/; a variação no contorno entonacional ("pitch"2); e a taxa de flutuação de pitchpitch). A pesquisa sócio-fonética na língua inglesa já mostrou que as sibilantes fricativas são altamente salientes na percepção de uma fala gay, tanto da parte de ouvintes não-gays requisitados para julgar a fala de informantes entre homossexual ou heterossexual, quanto da parte de homens gays na percepção de sua própria performance linguística (Smyth, Jacobs & Rogers, 2003). A variação de pitch, medida como desvio padrão em relação ao pitch médio, também se mostrou saliente na identificação da fala gay. E, finalmente, o dinamismo de pitch, definido como a rapidez com que o falante muda sua voz de mais grave para mais aguda, ou vice-versa, parece ser mais uma forma de identificar as diferenças entre vozes identificadas como "mais masculinas" ou "mais femininas". Gaudio (1994) examina o dinamismo de pitch na fala de homens gays e heterossexuais, e chega a correlacionar um maior dinamismo com os primeiros. (ou dinamismo de
Conforme já se apontou anteriormente, ainda não há trabalhos desenvolvidos acerca desse tópico no Brasil. Dessa forma, os primeiros passos dessa pesquisa são dados no sentido de se verificar quais são os traços linguísticos que os homens gays estão usando, na cidade de São Paulo, como índices de sua identidade. Nos itens a seguir, apresentam-se a metodologia dessa investigação e seus resultados. Futuramente, também vai interessar a essa pesquisa verificar que traços linguísticos - dentre aqueles observados nessa primeira fase - são perceptivamente mais salientes na indexação da identidade gay. Aventamos a hipótese de que estes dois aspectos vêm intimamente ligados, e que noções pré-concebidas sobre como deve soar um gay trazem informações sobre a construção de tal identidade, em termos sociolinguísticos. É nesse sentido que, já na introdução, apontou-se a necessidade de que esses estudos precedam a discussão sociolinguística da intolerância relativa a questões de sexo/gênero; é preciso entender o significado social das variantes linguísticas avaliadas como gay, tanto para os falantes que fazem parte dessa "comunidade", quanto para aqueles que sugerem sua afiliação (ou não) a tal comunidade via usos linguísticos.
Metodologia e trabalho de campo
No intuito de começar a entender o que se percebe como gay na fala masculina em São Paulo, entrevistaram-se várias pessoas, homens e mulheres de diferentes idades, de diferentes classes sociais, diferentes graus de escolaridades, diferentes orientações sexuais. Antes de descrever a metodologia do trabalho de campo e os resultados preliminares, contudo, cabe reportar as reações subjetivas de alguns dos entrevistados. Diante de questões informais a respeito do que lhes leva a crer que um cidadão do sexo masculino pode ser gay, alguns informantes sugeriram que, quando um homem se porta, anda, gesticula de um "certo" modo, pode ser que ele seja gay, ou não. Quando um homem fala "de um certo jeito", talvez ele não seja gay, mas é provável que sim, seja. Agora, quando um homem anda de uma certa maneira, porta-se de uma certa maneira "e" fala de uma certa maneira, é pouco provável que ele não seja gay.
É evidente que tais comentários são essencialmente subjetivos, mas o fato de que alguns informantes tenham descrito suas impressões nesses termos permite que se façam as seguintes considerações:
(a) A percepção social e estereotipada daquilo que se entende por "ser gay" não depende apenas de fatos linguísticos; portanto, está mais do que claro que o estudo de tal percepção deve ser interdisciplinar;
(b) Ainda que subjetivas, tais opiniões/impressões indicam que a percepção social do "gay" envolve tanto considerações qualitativas quanto quantitativas; em outras palavras, parece haver uma certa quantidade de certas características que um homem "pode" apresentar em sua performance social sem que ele seja percebido como gay; do mesmo modo, deve haver uma certa quantidade de certas características3 que um homem, pode-se dizer, "disponibiliza" na sua interação social, de modo que ele seja identificado como gay.
Nesse trabalho, os objetivos e resultados dizem respeito à face qualitativa da análise, em que se fez uma busca de elementos linguísticos (ou variantes linguísticas) que possam funcionar como índices (Ochs 1991, Eckert 2000) daquilo que é socialmente reconhecido como um modo gay de falar português brasileiro. A questão mais importante desse trabalho está, portanto, no seu próprio título: "O que se percebe como gay no português falado em São Paulo?"
Uma outra questão é: "Com que frequência tais variantes devem aparecer na fala de um homem, de modo que ele seja socialmente percebido como gay?" Ou ainda: "com que frequência homens heterossexuais "podem" empregar variantes linguísticas que são comumente associadas a uma identidade gay, sem que sejam identificados como gays? A natureza dessas perguntas, diferentemente da anterior, é quantitativa na sua essência. Para fazer uma comparação, pode-se lembrar, por exemplo, o fato de que no sul-sudeste do Brasil o /-r/ retroflexo é comumente associado a uma identidade (regional) caipira, ou pelo menos não-cosmopolita (leia-se, não-natural da cidade de São Paulo). Entretanto, é claro que é possível que um cidadão paulistano (nascido e criado na capital paulista), cujos pais e avós são paulistanos, pronuncie o /-r/ em final de sílaba de modo retroflexo - de vez em quando, em alguns contextos (linguísticos e situacionais). Assim, pode ocorrer que um paulistano que queira ser identificado como tal use o /-r/ retroflexo (ou /-r/ caipira) na sua fala, mas espera-se - sociolinguisticamente falando - que ele o empregue num número de vezes significativamente inferior que o paulista interiorano; do contrário, se a pronúncia retroflexa do /-r/ em final de sílaba ocorre "muito frequentemente" na fala do paulistano "da gema", é possível considerar que tal indivíduo pode estar interessado em expressar sua "afiliação" a outra comunidade, em termos regionais.
De todo modo, as questões de natureza quantitativa não integram os interesses imediatos desse trabalho. Elas deverão ser endereçadas oportunamente, quando se tiver noção de que variantes linguísticas são interpretadas como indicadoras da expressão de uma identidade gay. Voltando à questão principal desse artigo, que o intitula, é importante ressaltar que a resposta para ela não depende do fato de que um homem seja ou não gay. O que importa é entender o que há na fala de homens que pode ou não ser percebido e socialmente avaliado como gay. Trata-se, portanto, do conceito básico de "comunidade de fala" (Labov 1966, Trudgill 1974, Milroy 1980), de acordo com o qual as variantes linguísticas não somente indicam um certo grupo social, mas também são empregadas por indivíduos que queiram ser identificados como afiliados a tal grupo, ainda que não façam parte dele de fato, na prática.
Para abordar a avaliação daquilo que consiste em "soar como gay" em São Paulo, foram entrevistadas 53 pessoas, estratificadas de acordo com sua idade, sexo, orientação sexual e grau de escolaridade. Foram três as faixas etárias (até 25 anos; entre 28 e 35; e 40 anos ou mais). A orientação sexual foi uma variável importante a se considerar, a partir da hipótese de que talvez gays e heterossexuais entendam o que significa soar como gay de maneiras diversas. Finalmente, o grau de escolaridade é uma variável que sempre deve ser levada em conta em estudos sociolinguísticos no Brasil, já que o português brasileiro falado tem uma gramática muito diferente de sua versão escrita. Por essa razão, considerou-se também a hipótese de que poderia haver uma diferença na percepção do que significa soar como gay, dependendo de quão longe uma pessoa tenha ido na sua formação escolar.
Todas as entrevistas foram tão informais e relaxadas (isto é, não-tensas) quanto possível. Em geral, começou-se o diálogo perguntando aos informantes se eles tinham algum amigo ou parente gay. Independentemente da resposta deles, perguntava-se, a seguir, se eles achavam que há um "jeito gay" de falar, ou ainda, se eles achavam que homens gays falam "diferente", em comparação aos heterossexuais. Em geral, a partir desse ponto, perguntou-se aos informantes alguma das questões abaixo, ou todas elas:
-
Se você compara o modo como homens gays e heteros falam, que diferenças você percebe?
-
Que tipo de coisa chama a sua atenção, quando você ouve um homem falando, no sentido de fazer você pensar que "talvez" ele seja gay?
-
O que você mudaria na sua fala se você quisesse ser identificado como gay? (versão para mulheres: o que você mudaria na fala de um homem de modo que ele fosse identificado como gay?)
-
O que você reforçaria no seu modo de falar, de modo que não houvesse nenhuma dúvida de que você não é gay? (versão para mulheres: o que deveria ser reforçado na fala de um homem, de modo que não restasse dúvida sobre o fato de que ele não é gay?)
A maioria dos entrevistados teve dificuldades em responder essas questões. Em geral, eles tenderam a simplificar tudo, definindo o estereótipo do gay como um homem efeminado, ainda que reconhecessem que é possível que um homem seja gay sem ser efeminado, e que é possível que um homem efeminado não seja gay. A transcrição de um trecho do que dizem os entrevistados Bianca e Rafael4, um casal de alunos da Universidade de São Paulo, ilustra bem isso:
Rafael: Acho que pelo tom da voz... é o tom da voz, assim... é mais...
Bianca: é... pelo tom da voz... o ritmo
Rafael: é... o ritmo é mais ... devagar, assim...
Entrevistador: cê acha que o ritmo é mais devagar que no hetero?
Rafael: é... ele fala mais... ah, não sei...
Bianca: ah... fala mais... feminino...
A identificação entre os qualificadores "gay" e "efeminado" para um homem é algo bastante frequente, e muito comum em trabalhos anteriores feitos em língua inglesa (Wolfe, Ratusnik, Smith & Northrop 1990; Rogers and Smyth 2001 and 2003). Entretanto, fazer tal aproximação não é suficiente. Antes, o que se está buscando é um conjunto de pistas linguísticas, ainda que elas não sejam muito claras, daquilo que se percebe como "gay", na fala de homens. Alguns dos entrevistados foram um pouco mais ousados, linguisticamente falando, nas suas respostas:
Mônica: eu acho que eu identifico entonação
Entrevistador: entonação?
Mônica: entonação...
Entrevistador: como é que é isso?
Mônica: o modo como se prolongam algumas palavras... se acentua a palavra...
Assim, no sentido de obter impressões linguísticas menos genéricas como a descrita acima pela entrevistada, após alguns minutos de diálogo livre com o informante, o entrevistador pediu-lhes que ouvissem 5 homens diferentes lendo um mesmo texto (ver Apêndice), e que atribuíssem uma nota a eles, de 1 a 5, de acordo com o modo como eles soavam - 1 para o menos gay, 5 para o mais gay. Essas 5 leituras já haviam sido gravadas, antes que se procedesse às entrevistas sobre percepção linguística propriamente. Cada um dos leitores que os informantes ouviam deveria obter uma nota diferente, ou seja, o informante não poderia dar nota 1 a todos, ou nota 5 a todos, ou nota 2 para alguns, e 3 para outros. Desse modo, ao pedir aos entrevistados que explicassem por quê estavam dando tais notas a tais leitores, tornou-se um pouco mais fácil identificar alguns elementos linguísticos que podem funcionar como índices da identidade gay. Interessantemente, após ouvir as 5 leituras e julgar o que ouviram, até mesmo os entrevistados que se haviam considerado mais incapazes de discernir aquilo que os levariam a categorizar um homem como gay pelo seu modo de falar acabaram conseguindo fazer uma descrição algo mais precisa de sua percepção linguística.
Resultados
Após organizar todas as notas atribuídas pelos informantes, nota-se como e quanto eles concordaram entre si (sem que o soubessem, pois foram entrevistados separadamente), sobretudo com relação aos rapazes que soaram, na sua leitura, "mais gay". Interessante também é observar que essa concordância não dependeu de nenhuma das variáveis sociais através das quais eles foram estratificados, inclusive sua orientação sexual e seu grau de escolaridade.
|
Tabela 1: Entrevistados que concordaram na atribuição das notas 4 e 5 aos leitores |
|||||
|
|
Carlo |
Fernand |
João |
Marcelo |
Márcio |
|
Suplicy |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
|
Leonardo |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Bianca |
4 |
5 |
2 |
1 |
3 |
|
Thais |
4 |
5 |
1 |
3 |
2 |
|
Norma |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Hernâni |
4 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
Cristina |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
José |
4 |
5 |
1 |
3 |
2 |
|
Maria |
4 |
5 |
1 |
4 |
2 |
|
Cintia |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
|
Pedro |
4 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
Marina |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Esmeralda |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Ana |
4 |
5 |
1 |
3 |
2 |
|
Henrique |
4 |
5 |
1 |
3 |
2 |
|
Paulo |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
|
André |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
|
Maria Paula |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Augusta |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
|
Patrícia |
4 |
5 |
3 |
2 |
1 |
|
Michel |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
Carlos |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
|
Pedro |
5 |
4 |
2 |
3 |
1 |
|
Marcos |
5 |
4 |
1 |
2 |
3 |
|
Rodolfo |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
Entre os 53 entrevistados, apenas 6 deles5 discordaram nas notas que atribuíram aos leitores, especialmente no que diz respeito às "notas mais altas" (4 e 5). Esses informantes, bem como as notas que deram aos leitores, estão na tabela 2:
|
Tabela 2: Entrevistados que discordaram na sua atribuição das notas 4 e 5 aos leitores |
|||||
|
|
Carlo |
Fernand |
João |
Marcelo |
Márcio |
|
DINO |
3 |
5 |
2 |
4 |
1 |
|
MÔNICA |
2 |
4 |
5 |
3 |
1 |
|
RAFAEL |
5 |
3 |
1 |
4 |
2 |
|
JOÃO |
3 |
5 |
2 |
4 |
1 |
|
HÉLIO |
2 |
5 |
4 |
1 |
3 |
|
FÁBIO |
1 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Esses 6 informantes representam apenas 11% dos entrevistados. Todos os outros concordaram quanto aos leitores que mais soavam gay. Essa é uma evidência de que há considerável homogeneidade na percepção do que significa "soar como gay".
Quando se perguntou aos informantes por quê eles atribuíram as notas mais altas para Carlo e Fernando (ver as duas primeiras colunas na tabela 1), vários deles chegaram a mencionar algumas variantes linguísticas como argumentos em seu favor - diferentemente do pouco que tiveram a dizer no início das suas entrevistas. De acordo com a grande maioria dos informantes/entrevistados (37 no total), o leitor que soa "mais gay" é aquele que aparece na tabela com o nome Fernando. Atente-se para o fato de que todos os informantes entrevistados ouviram as gravações das leituras do texto na mesma ordem - Carlo, Fernando, João, Marcelo, Márcio - conforme aparece na primeira linha das tabelas. Antes da apresentação das leituras, foi dito aos entrevistados que não se sabia da orientação sexual dos leitores, e que o objetivo não era determinar se eles eram ou não gays, de fato.
Em alguns casos, os entrevistados reagiram com um tom de "muita segurança", fazendo julgamentos, logo após certas leituras, tais como "é evidente que esse cara é gay...", mas também "todos eles são gays?... porque eu daria nota zero a esse que acabou de ler, se eu pudesse, já que ele não ‘soa gay' de forma alguma..." Na verdade, os cinco leitores voluntários são gays e se apresentam como tais - mas essa informação não foi dada aos entrevistados. Além disso, não é demais repetir: a orientação sexual desses leitores não é o fato que vem ao caso.
O fato que importa - resultado dessa primeira fase da pesquisa, que vai além da atestada homogeneidade na avaliação das leituras - reside na descrição que parte dos entrevistados pôde fazer dos fatos linguísticos em que basearam suas avaliações. Especificamente com respeito à leitura feita por Fernando, os fatos linguísticos mais frequentemente mencionados como indicadores do seu "caráter gay" foram:
- "A entonação "sobe e desce" rápido e com frequência";
- "Vogais tônicas são mais longas";
- "As palavras são pronunciadas com "mais cuidado" e vagar; é mais gramaticalmente correto; por exemplo, ele não apaga o /-s/ no final das palavras no plural".
O primeiro item da lista acima é o que se chama, conforme se apontou anteriormente, de dinamismo de pitch - um fenômeno linguístico que já atraiu a atenção de outros pesquisadores, em outras línguas. Oportunamente, será importante analisar tal fenômeno no português, não só a fim de verificar se a justificativa dada pelos entrevistados para a sua avaliação confirma-se empiricamente, mas também para encaminhar um trabalho de comparação entre o português e outras línguas.
Entretanto, os dois itens seguintes parecem ainda mais interessantes. Em primeiro lugar, a diferença entre vogais tônicas e breves pode ser considerada tão sutil quanto sofisticada, em termos de percepção. Some-se a isso o fato de que tal característica linguística foi trazida à baila por cinco entrevistados - um número relativamente alto, que convida a um trabalho nada menos que instigante: verificar, via análise quantitativa multivariada, se as vogais tônicas são comparativamente mais longas na fala de homens gays naquelas situações em que querem ser identificados como tais, ou ainda naquelas situações em que não se ocupam de monitorar sua perfórmance linguística.
Em seguida, a questão da "correção gramatical" sugerida no terceiro item acima é especialmente curiosa, pois os cinco rapazes leram um texto. Na sua leitura, nenhum deles cometeu nenhum "erro" de gramática; por exemplo, nenhum deles apagou a marca de plural no sintagma nominal "esquecidos programas" (ver texto no Apêndice); ou seja, em nenhuma das leituras pronunciou-se "esquecidos programa", ou algo semelhante. Isso sugere que a avaliação de que Fernando merecia uma das duas notas mais altas "porque ele fala muito certinho" não foi baseada exatamente na sua leitura do texto. Parece razoável aventar a hipótese de que tal julgamento já estava dado antes mesmo que os entrevistados ouvissem as cinco leituras, e a despeito deles próprios. Em outras palavras, se há uma relacão entre "falar corretamente" e "soar gay", em se tratando da fala masculina, tal relação não foi factualmente observada durante a audição das leituras. Só isso já faz desse terceiro item o mais interessante na lista. Por outro lado, ainda não se tem notícia, na literatura sociolinguística sobre esse tema, de qualquer trabalho que tenha investigado a correlação entre uma variante morfológica (como o apagamento do morfema de plural no sintagma nominal) e a indexação da identidade gay masculina. Dessa forma, o estudo desse fenômeno pode não apenas permitir descobertas importantes para a pesquisa em foco, mas também o desenvolvimento de uma contribuição inovadora no cenário internacional dos estudos sociolinguísticos sobre esse tema.
Conclusão e direcionamentos futuros
Esse trabalho junta-se a outros no LEI, cujo objetivo geral é definir um terreno para a discussão da intolerância diante de usos linguísticos. Numa das áreas desse terreno, colocam-se em foco as relações entre usos linguísticos e a expressão e construção de identidades de sexo/gênero. Mais especificamente, esse artigo objetiva examinar a percepção linguística do que seria a "fala gay masculina", em São Paulo. Os resultados aqui apresentados permitem delinear caminhos promissores para a continuação da pesquisa.
Primeiramente, a percepção do que significa "soar gay" revela-se bastante homogênea. Essa descoberta reafirma a interpretação de comunidade de fala como um grupo de indivíduos que compartilham avaliações acerca de um conjunto de normas linguísticas, e confirma resultados reportados em outros trabalhos. Em seguida, ainda que os entrevistados (e as pessoas em geral) possam encontrar dificuldades em reproduzir exemplos daquilo que interpretam como características de uma fala gay, quando apresentados com amostras dessa fala eles se mostram capazes de identificar características linguísticas específicas que os levam às suas percepções e avaliações.
Finalmente, esse estudo preliminar permitiu identificar a possível correlação entre evitar o apagamento da marca de plural, entre outros fatos linguísticos, e a expressão de uma fala gay. Qual seria o significado social de tal correlação? Diversos trabalhos em sociolinguística já mostraram que as mulheres tendem a ser mais sensíveis ao que é linguisticamente privilegiado. Nesse sentido, uma das perguntas que deverá nortear o prosseguimento dessa pesquisa é: haverá uma aproximação entre a fala masculina gay e fala feminina no que diz respeito a variantes gramaticais, além de fonéticas e entonacionais?
Na continuação da pesquisa, será necessário conduzir uma análise quantitativa detalhada dessas variantes, a fim de determinar se as percepções e impressões aqui reportadas são atestadas na performance linguística de fato. Nesse sentido, o próximo passo é a constituição de uma amostra de dados da fala de homens gays, de diferentes idades, diferentes níveis de escolaridade, em diferentes situações (naquelas em que intencionam ser identificados como gays, e naquelas em que prefeririam não ser identificados como tais), bem como a observação etnográfica desses falantes em interação social.
Referências
Bell, A. (1984). Language Style as Audience Design. Language in Society 13:145-204.
Bell, A. (2001). Styling the other to define the self. Journal of Sociolinguistics, vol. (4): 523-541.
Eckert, P. (2000). Linguistic variation as social practice. Oxford: Blackwell.
Gaudio, R. P. (1994) Sounding gay: Pitch properties in the speech of gay and straight men. American Speech, vol.69, pp. 303-318.
Kulick, D. (2000). Gay and lesbian language. Annual Review of Anthropology, 29, 243-85.
Labov, W. (1966). The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.
Levon, E. (2003). Perception and Linguistic Performance: Ideology and variation among gay men in the United States. Ph.D. Dissertation Proposal. New York University
Milroy, L. (1980). Language and Social Networks. Oxford: Basil Blackwell.
Naro, A.J. & Scherre, M.P. (1996) Sobre a influência de variáveis sociais na concordância nominal. In Oliveira, G.M. & Scherre, M.M.P. Padrões Sociolingüísticos: Análise de fenômenos variáveis do português falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro. p.239-264.
Naro, A. J. & Scherre, M. P. (2003) Estabilidade e mudança lingüística em tempo real: a corcordância de número. In Paiva, M. C. & Duarte, M. E. L. (orgs.) Mudança lingüística em tempo real. Rio de Janeiro, Contra-capa - FAPERJ. p.47-62.
Ochs, E. (1991). "Indexing gender". In: Duranti, A. & Goodwin, C. (1991) Rethinking Context. Cambridge: Cambridge University Press.
Podesva, R. J. 2004. The significance of phonetic detail in the construction of social meaning. Paper presented at the Annual Meeting of the Linguistics Society of America (LSA) 78, Boston.
Smyth, R. & Rogers, H. (2001). Searching for phonetic correlates of gay- and straigh-sounding voices". Toronto Working Papers in Linguistics, vol 8, pp.44-64
Smyth, R.; Jacobs, G. & Rogers, H. (2003). Male voices and Perceived Sexual Orientation: An experimental and theoretical approach. To appear in Language in Society, vol.32, no. 3.
Trudgill, P. (1974). The social stratification of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolfe, V.; Ratusnik, D.; Smith, F.; & Northrop, G. (1990) Intonation and fundamental frequency in male-to-female transsexuals. J. Speech Hearing Disord., 55: 43-50.
Apêndice
O Brasil acaba de eleger deputado federal o estilista, designer de alta costura, condutor de talvez já esquecidos programas de televisão, e polêmico contador de verdades - Clodovil Hernandes. O "Hernandes" parece informação nova, já que todo mundo o conhece mesmo como Clodovil. Agora, ele é o Deputado Clodovil. Recentemente, o repórter perguntou ao recém-eleito deputado como ele chegaria a Brasília. Ele respondeu rapidamente: "chiquérrimo, é claro... porque eu sou mesmo". Entretanto, quando o mesmo repórter lhe perguntou que projetos levaria para Brasília, Clodovil hesitou e acabou dizendo, juntamente com um gesto de mão: "não sei... eu não sei nem se há política nesse país." Ora, política há... pois ele foi eleito. Em sua campanha, seu mote era: "Brasília nunca mais será a mesma", já que ele pretende denunciar tudo o que chegar ao seu conhecimento. Vozes mais maldosas, por outro lado, dizem temer que Brasília jamais será a mesma porque o novo deputado mudaria a cor predominante da capital federal, de um branco acinzentado, para um vistoso cor-de-rosa...
1 Do inglês style-shifting.
2 Em geral, "pitch" pode ser traduzido por "frequência fundamental". Entretanto, enquanto a frequência fundamental é um dado técnico, que quantifica o número de vezes, por segundo, que as cordas vocais vibram com o falar, "pitch" remete, neste contexto, à percepção e classificação de uma voz como ‘mais aguda' ou ‘mais grave'. Ou seja, a frequência fundamental é uma medida exata, enquanto que "pitch" é uma percepção socialmente definível.
3 O termo "característica" está empregado, aqui, de maneira bem geral, mas também pode ser usado para se referir a fatos relativos especificamente a performance linguística.
4 Todos os nomes de entrevistados apresentados nesse artigo são fictícios, ou seja, não correspondem aos verdadeiros nomes dos entrevistados. Antes de todas as entrevistas, garantiu-se que não se publicaria a identidade dos entrevistados. Todos concordaram previamente com a gravação dos diálogos entre eles e o documentador/entrevistados.
5 As tabelas 1 e 2 trazem juntas 31 informantes, embora tenham sido entrevistados 53. Os 22 restantes, não incluídos na tabela 1 por mera questão de espaço, atribuíram suas notas de modo semelhante aos integrantes da tabela 1.