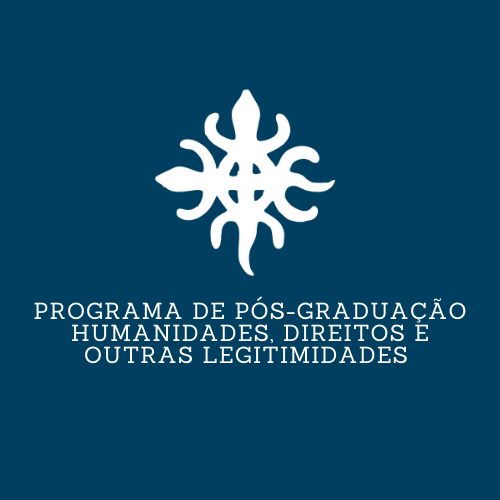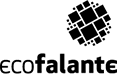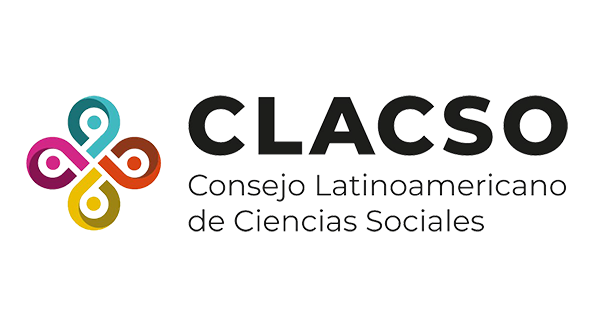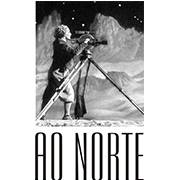Maria Aparecida Cabañas
Introdução
Este estudo pode ser considerado um reflexo de antigas inquietações quanto ao conteúdo ideológico veiculado pelas línguas. A decisão de estudar a intolerância surgiu com a criação do LEI e a formação do grupo de pesquisa da Lingüística, na Faculdade de Letras, devido à convicção de que há várias formas de intolerância, inclusive a lingüística, e de que todas essas manifestações são graves e devem ser consideradas e analisadas.
1- Objetivo
Partindo-se dos pressupostos bakhtinianos de que todo signo linguístico é ideológico, de que a ideologia é um reflexo das estruturas sociais e de que toda modificação da ideologia encadeia uma modificação da língua, resolvemos analisar as manifestações de intolerância no combate aos estrangeirismos, sendo que verificaremos, principalmente, o caso dos galicismos. Assim, esta pesquisa visa a estudar a concepção de estrangeirismo que vigorou no final do século XIX, início do século XX e a reação purista que a aceitação e o uso desses termos causou.
2- Metodologia
Esta pesquisa tem como corpus os galicismos pesquisados nos volumes I e II da obra Estrangeirismos, do gramático português Cândido de Figueiredo, lançados em 1902 e 1912, respectivamente. Nesse estudo, o autor se dedicou a analisar os estrangeirismos em geral, aceitando alguns, rejeitando outros, mas, combatendo, particularmente, os galicismos. Para o nosso estudo, escolhemos os galicismos, cuja análise, feita pelo gramático, continha elementos metalinguísticos favoráveis aos objetivos que nos propusemos.
Assim, do ponto de vista metodológico, optamos por analisar indutivamente o discurso de Cândido de Figueiredo, ou seja, verificar a metalinguagem do autor para compreender seu conceito de língua, sua posição face aos galicismos e, eventualmente, a ideologia contida nesse discurso. Para a realização dessa análise, buscamos subsídios teóricos em Fiorin (1989), Barros (2003) e Maingueneau (2002).
3- As transformações ocorridas nos séculos XVIII e XIX
Analisar o contexto histórico é vital para a compreensão das relações culturais existentes entre França, Brasil e Portugal, devido às profundas transformações ocorridas no período estudado nesta pesquisa.
No século XIX, o antagonismo entre progresso tecnológico e condições sociais era nítido, e estes antagonismos refletiram-se no campo das ideias. Surgiram, assim, novas teorias políticas, científicas, filosóficas, que procuravam explicar fenômenos sociais, naturais e psicológicos. Dentre as correntes científico-filosóficas destacavam-se o Positivismo, o Determinismo e o Darwinismo. Criado por Auguste Comte, o Positivismo é uma filosofia empírica, que parte do pressuposto de que o único conhecimento válido é o conhecimento positivo, isto é, originário das ciências. O Determinismo, de Taine, parte do princípio de que o comportamento humano é determinado por três aspectos básicos: o meio, a raça e o momento histórico. Lamarck e Darwin, à luz das ideias evolucionistas, apresentam a teoria da seleção natural, segundo a qual a natureza seleciona os mais fortes que sobrevivem e procriam, e os mais fracos são eliminados antes da procriação.
Em consequência, a arte e a literatura refletem as profundas transformações ocorridas. Verifica-se nos movimentos literários uma enorme necessidade de descrever, analisar e criticar a realidade. Iniciam-se, assim, na França, o Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo, com a publicação dos romances Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola e das antologias Parnasse contemporain (a partir de 1866).
É fácil entender a forte influência francesa não apenas na Europa, mas também no Brasil, afinal os mestres desses movimentos eram franceses. Em Portugal, Antero de Quental, que viveu algum tempo em Paris com o objetivo de conhecer o clima revolucionário existente nos meios políticos franceses, foi o líder intelectual do grupo que deu início ao Realismo. Destacaram-se também, entre outros, Eça de Queirós, Fialho de Almeida e Abel Botelho.
4- A intolerância ao longo da história da humanidade
A pesquisa e a análise da origem e das manifestações de intolerância ocorridas ao longo da história são de extrema importância para a compreensão das atitudes intolerantes, tão frequentes na atualidade.
Rouanet (2003:10) define a intolerância como "uma atitude de ódio sistemático e de agressividade irracional com relação a indivíduos e grupos específicos, à sua maneira de ser, ao seu estilo de vida e às suas crenças e convicções." Ele esclarece que, na antiguidade clássica, devido ao politeísmo, a intolerância religiosa era desconhecida. Ela tornou-se possível apenas com o surgimento do cristianismo, religião que afirmava a existência de um só Deus. No século XIII, quando a Idade Média transformou-se em uma sociedade fundada na rejeição e na exclusão, a intolerância passou a existir. O maior exemplo de intolerância foi a Inquisição, iniciada quando o Papa Gregório 9º criou um tribunal especial, destinado a reprimir, principalmente, judeus e os albigenses, hereges que habitavam o sul da França. A repressão inicial tornou-se uma das mais sangrentas guerras, levando à extinção completa da religião.
Na era moderna, a intolerância assumiu dimensões cruéis, catastróficas. Para Rouanet (2003:10), várias guerras religiosas, caracterizadas por massacres bárbaros, ocorreram "porque se julgava que a solidez do poder absoluto do rei dependia da aplicação do princípio de que a religião do povo deveria ser a religião do príncipe." Essas guerras iniciaram-se com um massacre de protestantes ocorrido na França em 1562, e atingiram um ponto crítico em 1685 quando Luís XIV revogou o Edito de Nantes, tratado assinado em 1598 que dava liberdade de culto aos protestantes. Em consequência, vários templos foram destruídos para impedir a realização de assembleias, levando à imigração forçada aproximadamente 300 mil protestantes, que eram tão intolerantes quanto os católicos.
Na atualidade, apesar do conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, a intolerância religiosa parecia um fato superado, até ressurgir sob a forma do fundamentalismo que atinge as três grandes religiões monoteístas, ou seja, o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo. Assim, de acordo com a análise de Rouanet (op. cit.), o fundamentalismo caracteriza-se por inverter o papel tradicional da religião, ou seja, de vítima da intolerância ela torna-se o principal agente da intolerância, o que o leva a afirmar o seguinte:
Na medida em que a intolerância se caracteriza pela incapacidade de descentramento, de empatia com o ponto de vista do outro, o fundamentalismo tem sido um enorme obstáculo à paz mundial, pois inviabiliza qualquer processo racional de negociação. (2003: 10)
Ainda segundo o autor, muito mais grave do que o fundamentalismo religioso é o fundamentalismo americano. Ele explica o termo mostrando que, nos Estados Unidos, a direita religiosa chegou ao poder e, com seu discurso bíblico e obscurantista, tornou-se uma terrível ameaça à paz mundial, na medida em que é capaz de afetar o mundo inteiro e não apenas uma região. Para o autor, o violento atentado de 11 de setembro deveria ter sido tratado como um crime contra a humanidade, mas Bush preferiu tratá-lo como um crime contra Deus, aproximando seu discurso ao dos fanáticos terroristas, ao usar expressões como "eixo do mal" ou "justiça divina", inventadas, conforme Rouanet, pelos "aiatolás" do Pentágono.
Entretanto, Rouanet considera que uma das grandes catástrofes do século XX foi a intolerância racial, responsável pelo maior crime da história, o extermínio de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista, e também pela perseguição e discriminação sofrida pelos negros nos Estados Unidos. Para o autor (op.cit.), "nos dois casos, a intolerância operou através da estigmatização, da atribuição ao outro de estereótipos de opróbrio." Ele afirma que é desta forma que o intolerante racial constroi o outro, observando nele apenas o lado negativo, os graves defeitos e características depreciativas, tanto físicas quanto morais. E enriquece seu ponto de vista, citando Sartre:
Na ‘Questão Judaica' (1946, ed. Ática), Sartre mostra como o anti-semita constroi o judeu, dotando um homem sem nenhum atributo especial com inúmeras especificidades negativas, que vão desde a forma do nariz até a paixão imoderada pelo entesouramento. Do mesmo modo, o racista do Alabama constroi o negro, atribuindo-lhe características diferenciadoras mais ou menos imaginárias. (2003:12)
Atualmente, de acordo com as ideias desse mesmo autor, a intolerância racial foi substituída pela intolerância étnica, o ódio racial foi substituído pelo ódio de etnias, como o que foi praticado na guerra entre sérvios, bósnios e croatas. Apesar da intolerância étnica demonstrada nessa guerra, ainda há focos de racismo clássico. No Brasil, por exemplo, os negros são vítimas de uma dupla intolerância, a racial e a social, devido ao estado de pobreza em que vivem.
Outras fontes de intolerância que devem ser analisadas são a xenofobia e o sexismo. De acordo com o texto, a xenofobia existe há muito tempo, mas, atualmente, devido ao aumento da migração da população pobre de países do Terceiro Mundo para os Estados Unidos e para a Europa, assumiu uma dimensão preocupante. Esses "estrangeiros" decidem migrar para fugir da miséria e dos problemas sociais que os atingem nos seus países de origem. Frequentemente, na nova "pátria", tornam-se trabalhadores braçais, conseguindo apenas sobreviver. Em muitos países, a intolerância sofrida pelos imigrantes é insuportável, e eles tornam-se indesejados e passam a ser perseguidos.
5- Intolerância linguística: início das pesquisas
A iniciativa de discutir e estudar a intolerância, apesar de importante, é recente no Brasil. É possível justificar a importância da pesquisa desse tema, pela convicção de que, colocando a intolerância em evidência nos meios acadêmicos, estaremos possibilitando a adoção de um comportamento tolerante.
Efetivamente, podemos afirmar que o estudo da intolerância linguística é inédito no país. O preconceito linguístico, ao contrário, é objeto de estudo frequente e já deu origem, inclusive, a algumas publicações. Assim, escolhemos iniciar este trabalho a partir do objetivo do grupo da Linguística no LEI, conforme está registrado no Projeto, ou seja: "examinar a intolerância e o preconceito linguísticos no Brasil e as formas de resistência desencadeadas, tanto em relação às variantes de uma mesma língua, quanto em relação a outras línguas."
Este objetivo norteará esta pesquisa, que se propõe a analisar as marcas de intolerância linguística no combate aos estrangeirismos, principalmente, os galicismos. Nestas condições, para que possamos atingir estes objetivos, é fundamental que os dois termos - intolerância e preconceito linguístico - sejam bem definidos e conceituados. Assim, no momento em que estudamos esse assunto, observamos que o preconceito pode levar à intolerância, afirmação que nos permite atribuir a ela uma gravidade superior. Vimos que, de acordo com as ideias de Rouanet, a intolerância pode ser definida como "uma atitude de ódio sistemático e de agressividade irracional com relação a indivíduos e grupos específicos, à sua maneira de ser, ao seu estilo de vida e às suas crenças e convicções"; já no Novo Dicionário Aurélio (1986: 1380), a palavra preconceito é definida como "conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; ideia preconcebida." O autor apresenta como segunda acepção, "julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; prejuízo". É interessante salientar que, nessas duas acepções, sente-se o conteúdo semântico do prefixo pre- (do latim prae), indicando anterioridade. Entretanto, na citada obra, encontramos ainda mais duas acepções por extensão: "superstição, crendice, prejuízo" e "suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc.". Vale a pena observar que, na terceira acepção, ainda encontramos traços semânticos de anterioridade, sendo que o mesmo não acontece na última, que ganha a conotação de uma ideia, um conceito sedimentado e estabelecido, fato que pode confirmar o pressuposto inicial de que o preconceito pode conduzir à intolerância, na medida em que essa opinião preconcebida se estabelece e se solidifica no indivíduo.
Nesse sentido, Leite (2005) examina os termos preconceito e intolerância à luz da filosofia, analisando as ideias de dois filósofos de épocas diferentes, Voltaire (século XVII) e o contemporâneo Norberto Bobbio. Partindo de uma pesquisa em dicionário, a autora (2005: 2) alerta que "à primeira vista, pode-se dizer, simplesmente, que as palavras são sinônimas." Entretanto, após uma criteriosa análise dos termos, ela conclui:
O preconceito é a discriminação silenciosa e sorrateira que o indivíduo pode ter em relação à linguagem do outro, é um não-gostar, um achar feio ou errado um uso (ou uma língua), sem que se tenha a configuração do que poderia vir a ser bonito ou correto. A intolerância, ao contrário, é ruidosa, explícita, porque, necessariamente, se manifesta por um discurso metalinguístico, calcado em dicotomias, em contrários, como, por exemplo, tradição X modernidade, conhecimento X ignorância, saber X não-saber, e outras congêneres.
(2005: 4)
Outro conceito que pode, semanticamente, estar relacionado à intolerância é o de purismo. A autora explica que, apesar da modernidade que os estudos linguísticos geraram, o purismo poderá ser encontrado em textos de qualquer área de conhecimento e de qualquer época, inclusive nos de linguística. Leite (1999: 211) mostra que "o purismo antes era a tentativa de preservação do ‘antigo e bom português', praticado pelos ‘barões doutos', os versados na língua e literatura nacionais e sabedores das línguas e literaturas clássicas. Hoje há também um purismo praticado por ‘doutos'."
Na análise do corpus deste estudo, examinaremos as marcas de intolerância linguística presentes no discurso de Cândido de Figueiredo, formado em Direito, mas amante dos estudos linguísticos e literários, assumido defensor da pureza da língua. Ao analisar, por exemplo, a expressão francesa dernier cri, declara com firmeza:
É possível que a moda grite proclamando o seu triunfo às turbas embasbacadas; mas o certo é que a língua portuguesa grita e brada aos céus contra os triunfos da francesice.
Que necessidade temos nós do dernier cri, se temos, em nossa língua, expressão correspondente àquela, e lidimamente portuguesa? (1912: 83)
Efetivamente, como é possível notar no exemplo acima, o discurso do autor evidencia, várias vezes, e de diferentes maneiras, a intolerância causada pelo uso de palavras estrangeiras e, até mesmo, de neologismos. Verificaremos, ao longo desta pesquisa, que o gramático português assume uma atitude purista diante da língua, na medida em que rejeita os estrangeirismos e aceita os neologismos apenas quando evitam a entrada de uma palavra estrangeira.
6- Os galicismos e a visão crítica de Cândido de Figueiredo
Na obra Estrangeirismos, Cândido de Figueiredo (1938: 7) inicia o capítulo dedicado aos galicismos reconhecendo que, frequentemente, atribui-se ao termo um significado depreciativo, pois com ele "se julgam e se condenam todos os vocábulos e locuções que tenham o cunho francês". Entretanto, apesar desse reconhecimento, recomenda que o assunto seja analisado com cuidado e, como procede com os estrangeirismos, classifica os galicismos em:
-
Galicismos que entraram há séculos e já fazem parte integrante da língua;
-
Galicismos que entram por conveniência ou necessidade relativa;
-
Galicismos inúteis ou dispensáveis, pois a língua possui palavra correspondente;
-
Galicismos disparatados ou ridículos, originários "do influxo da moda ou das sombras da ignorância" (1938:7).
O autor reconhece também que, ao longo dos séculos, as línguas, em geral, se influenciam, mudam, evoluem, e que a língua portuguesa não é uma exceção. Ele ilustra esse fato analisando a constituição do português:
Constituída nos fins da Idade-Média com elementos célticos, latinos, gregos, árabes e góticos, a língua portuguesa tem recebido nos últimos cinco séculos as mais variadas contribuições, desde a influência do francês até a do tupi, do quichua, do caraíba, na América; do quimbundo e dialectos cafreais, na África; do chinês, do tâmil, do malaio, na Ásia e na Oceania. (1938:8).
Ao analisar as influências que a língua portuguesa recebeu de outras línguas, o gramático reconhece também a influência que ela exerceu e, com o objetivo de fundamentar seu ponto de vista, explica que:
Como era natural, o português também influiu um pouco em alguns idiomas estrangeiros. Ocorrem-me, por exemplo, os termos franceses ‘pintade' e ‘manoque', que são puros portuguesismos, levados de cá para França. A verdade, porém, é que, neste gênero de comércio Portugal tem importado mais que tem exportado. (1938:8).
Para o autor, de todas as línguas, o francês foi a que mais influenciou o português desde a sua formação e, principalmente, no século XIX. No trecho abaixo transcrito, ao usar o substantivo dano e o adjetivo incalculável, torna-se imperativo quanto às consequências maléficas dessas influências, afirmando que:
É incalculável o dano que a predilecção das leituras francesas tem causado às letras portuguesas, no decurso do século que findou.
Durante a minha longa peregrinação através da literatura contemporânea de Portugal e do Brasil, tive ocasião de registrar centenares de destemperados galicismos, a muitos dos quais me referi, para os condenar, no Novo Dicionário da Língua Portuguesa e noutros livros meus. (1938:10).
O autor sente-se cada vez mais à vontade para condenar a entrada e o uso desses termos no idioma, e seu discurso torna-se mais categórico e firme. Ele reconhece a supremacia cultural francesa naquele momento, mas deixa claro seu conceito de língua. Para ele, a língua portuguesa é um patrimônio que deve ser protegido, preservado, deve se manter puro, sem máculas. Ele passa a usar verbos (expurgar, macular) e adjetivos (estranho, inútil, nocivo, absurdo) que deixam bem evidente sua posição contrária à influência linguística do francês no português, e também a primeira pessoa do plural, envolvendo, assim, o leitor no seu discurso e na sua luta:
Não ergamos portanto mão da inglória mas plausível faina de expurgar o nosso amplo e rico patrimônio lexicológico de tudo que lhe é estranho, inútil, ou nocivo; e, como nos veio de França a maior parcela dos barbarismos que maculam ou pretendem macular o nosso idioma, demoremo-nos um pouco, antes do mais, no que geralmente se designa por galicismos inúteis ou absurdos. (1938:10-11).
Nos exemplos usados, ele mantém o mesmo discurso crítico e a escolha lexical do autor evidencia seu julgamento e sua condenação à maneira, ao modo como essas palavras passaram a integrar a língua portuguesa:
Uns dêstes, na sua transplantação para cá, tentam hipocritamente revestir a forma portuguesa, quanto à sua desinência ou terminação; outros invadem descaradamente os nossos domínios, usando precisamente os trajes que usam em Paris, como comitê, toilette, abat-jour, etc.
Suspendamo-los todos na mesma fôrca, a ver se inda é tempo de os estrangular com o mesmo nó corredio ...(1938:11).
No final de sua exposição, Cândido de Figueiredo dirige-se novamente ao leitor e solicita a cooperação de todos para eliminar "essas plantas daninhas e exóticas" do idioma. Nos capítulos em que analisa os outros estrangeirismos, como os anglicismos, os germanismos, os italianismos e os latinismos, seu discurso é menos contundente, apesar da ironia, de algumas marcas de rejeição e das críticas aos falantes que aceitam e usam os galicismos. Assim, o autor afirma que:
Embora os meus contemporâneos prefiram o francesismo aos outros estrangeirismos, é claro que também a Espanha, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha e outras nações nos têm comunicado, de envolta com várias coisas aceitáveis e até coisas úteis, muitas que nos não são precisas, muitíssimas que devemos recusar, e algumas que se podem tolerar, sob a condição de lhes darmos feição portuguesa. (1938:145)
Contrariamente, ao analisar a extensão da influência linguística e cultural da França, o autor pede a resistência de todos, principalmente dos "caturras", ou seja, dos "teimosos, dos agarrados a velhos hábitos", sempre dispostos a achar defeitos, entre os quais ele se inclui, afirmando que:
É infinita, porém a seara dessas plantas daninhas e exóticas, e a tal ponto se enraizaram algumas delas, que, para lhes pôr ao sol a raiz será mestér que nessa obra benemérita coopere o mais acendrado patriotismo de nós todos, e a resistente enxada de caturras mais pertinazes e robustos do que eu" (1938: 11).
7- Intolerância e o discurso de rejeição aos galicismos
Conforme mostramos ao longo deste estudo, Cândido de Figueiredo foi um crítico severo à entrada de estrangeirismos na língua portuguesa, principalmente de galicismos.
O discurso intolerante de Cândido de Figueiredo é evidente no léxico escolhido. É nítida sua preferência por substantivos e adjetivos depreciativos, por verbos no modo imperativo, adjetivos no grau superlativo, de modo que suas afirmações tornam-se irônicas e autoritárias, como podemos observar em:
" ... trabalho bem concedido, mas defeituoso nos detalhes de execução."
Vulgaríssimo, como azeite nas tendas, êste mofino detalhe, detalhar, detalhadamente ... Percorre gazetas e livros modernos, e vai lançando raízes de escalracho.
Mas realmente, se nós temos minúcias, minudências, minudenciar, pormenores, pormenorizar, etc., que cegueira é esta, que nos leva a tolerar o exótico enxêrto?
Se o amor às nossas coisas inda se não extinguiu de todo, dispam o detalhe, que é roupa alheia, e trajem a bôa fazenda nacional, que a temos em abundância, louvado Deus. (1938: 25-26)
Ele inicia a análise do galicismo detalhe com um julgamento, utilizando um adjetivo no grau superlativo, uma comparação e o adjetivo mofino (importuno, infeliz) para caracterizar o galicismo. Em seguida, propõe termos vernáculos equivalentes e utiliza o verbo tolerar referindo-se ao galicismo como um exótico enxerto, que lança suas raízes de escalracho (de ervas daninhas). Conclui com um verbo no imperativo, ordenando que o termo deixe de ser usado, pois não é um dos "nossos". O gramático afirma que temos palavras equivalentes e de excelente qualidade na língua, tratando o galicismo como um invasor.
Em outro momento, ao analisar a palavra fornitura, cujo significado é fornecimento, afirma que ela é "um inútil aportuguesamento do francês fourniture". Para ele, a palavra "aparece em anúncios e facturas comerciais, não tanto por ignorância, como por amor aos figurinos franceses." No final, apela imperativo aos falantes do português: "Mantenhamos pois o nosso velho e sempre novo fornecimento, e reexportemos as fornituras para os magasins do Louvre e do Printemps." (1912:105)
Como o exemplo acima prova, podemos afirmar que o discurso de Cândido de Figueiredo, nos dois volumes da obra Estrangeirismos, expõe uma forte rejeição à entrada desses termos na língua. As palavras estrangeiras no idioma marcam a presença do outro entre "nós" e podem gerar duas atitudes, ou seja, a assimilação ou a rejeição. O galicismo representa a língua do outro que deseja se instalar, se fixar no "nosso mundo", mas nem sempre toleramos ou aceitamos esse "estrangeiro". Cândido de Figueiredo demonstra, com frequência, que aceita os galicismos com reservas, e apenas por necessidade. Contudo, o autor defende que, mesmo nos casos de necessidade, se esse "estrangeiro" deseja ser "um dos nossos", obrigatoriamente deverá se submeter às nossas condições, "vestir os nossos trajes", ou seja, os estrangeirismos devem aportuguesar-se. Conforme as idéias de Landowski (1997), essa atitude pode ser explicada considerando-se que:
En fait, les ‘étrangetés' de l'étranger, qu'on les juge (selon le contexte) pittoresques, charmantes ou exécrables, font toutes ici l'objet d'un seul et même mode d'observation et d'évaluation. L'attention se focalise ponctuellement sur un petit nombre de manifestations de surface que l'on s'empresse soit de survaloriser soit de déprécier pour elles mêmes, sans se préoccuper de la place qu'elles occupent ni par conséquent de la signification qu'elles revêtent à l'intérieur des systèmes de valeurs, de croyances et d'actions dont elles font partie. (1997: 19)
No volume I da obra, ainda na introdução do capítulo dedicado ao estudo dos galicismos, o autor ressalta que, para ele, a língua portuguesa é um patrimônio que deve se manter puro, sem as "máculas" e os "danos" que os galicismos podem causar. Reconhece a forte influência cultural da França e, em alguns trechos, refere-se aos galicismos personificando-os:
Uns destes, na sua transplantação para cá, tentam hipocritamente revestir a forma portuguesa, quanto à sua desinência ou terminação; outros invadem descaradamente os nossos domínios, usando precisamente os trajes que usam em Paris, como comité, toilette, abat-jour, etc.
Suspendamo-los todos na mesma fôrca, a ver se inda é tempo de os estrangular com o mesmo nó corredio... (1938:11)
Um dos fortes argumentos teóricos de Cândido de Figueiredo é que os estrangeirismos que entram no idioma são incompatíveis "à índole das nossas palavras", devendo assim, obrigatoriamente, se adaptar à nossa realidade ortográfica, fonética, semântica. Contudo, mesmo quando essa adaptação ocorre, o vocábulo estrangeiro continua a ser rejeitado pelo autor e condenado, como bem ilustra o exemplo acima, o que confirma a idéia de Landowski, segundo a qual, diante do "outro", como já comentamos, assume-se ou a atitude de assimilação ou a de exclusão. Para ele, porém, as tentativas de assimilação são, na realidade, tentativas de ajudar o "outro" a perder os traços que o caracterizam e o diferenciam e transformá-lo em um dos "nossos". Diante da hipocrisia contida nesse tipo de atitude, o teórico francês questiona:
Pourquoi ne pas admettre que l'étranger, en realité, ne sera jamais des nôtres, qu'il ne pourra jamais l'être, qu'il ne doit pas le devenir? Que son ‘odeur', odieuse par définition, tient à sa ‘race' et n'est pas donc effaçable? En un mot, qu'il est urgent de contenir, probablement même, déjà, de repousser, de refouler - d'exclure - l'étranger, cet éternel ‘envahisseur'. (1997: 21)
Com efeito, o questionamento de Landowski pode explicar a postura de Cândido de Figueiredo diante dos estrangeirismos, principalmente os de origem francesa. Para ele, a palavra estrangeira não pertencerá jamais ao nosso léxico, será sempre uma intrusa, uma invasora. Ele critica, sempre que possível, a supremacia cultural e linguística francesa e a forte influência que exercia na sociedade portuguesa naquela época. Na análise do vocábulo coupon, por exemplo, ele defende o aportuguesamento com convicção. Conforme vimos quando estudamos a intolerância, uma de suas causas principais é a xenofobia. Desta forma, ao personificar o termo, transformando-o em um "estrangeiro indesejado" que a todos suborna e engana, Cândido de Figueiredo torna-se tão intolerante quanto o mais assumido nacionalista:
Vestido à portuguesa, como na Espanha se vestiu à espanhola, o estrangeiro aparecer-nos-á assim: - Cupão.
Acham-no desgracioso? vulgar? plebeu?
Não é bem isso. É que o outro, o monstrengo, engalanado à francesa, teve artes e manhas para subornar meio mundo, e é de uma tal eloquência ...
A mim é que ele não me tenta: e, onde quer que o encontre, só lhe chamarei cupão.
Se ele se zangar, tanto melhor: talvez nos deixe. (1912: 78)
Além disso, mostra por meio de ironias, comparações, hipérboles, etc., os "males" que a influência linguística francesa causava à língua portuguesa. No exemplo abaixo, é irônico ao afirmar que o Romantismo teria sido um período bonito se a língua francesa e a tuberculose, doença grave e incurável naquela época, não tivessem feito tantas vítimas. Ao considerar ingênuo o jornalista que usou o galicismo e alertá-lo para o "erro" que cometeu, mostra-se, além de irônico, também intolerante, como é possível verificar em:
- ‘E, por hoje, mais nada tenho a comunicar aos leitores do seu jornal. Au revoir.'
Este correspondente (portuense) é dos bons tempos românticos, em que as cartas de amor terminavam geralmente por um desses exotismos: "Tout à vous"; "Toujours à toi"; "Ne m'oubliez pas"; "Je vous serre la main"; "Au revoir"
Belos tempos realmente se o francês e a tísica não fizessem tantas vítimas, e se os pianos e os poetas não gemessem tanto!
Hoje, tempos de prosa, um au revoir é uma ingenuidade que faz dó. Pense nisso o correspondente, e ...até á vista. (1912:20)
Embora em Portugal, o gramático não conhece a França e, apesar da proximidade geográfica dos dois países, não pretende conhecê-la. Cândido de Figueiredo (1912: 84) afirma que os grandes centros urbanos não o atraem, e discorda da afirmação de que para se falar de coisas francesas, não há nada como viver em Paris, ou ter lá vivido, declarando: "Ora, eu nunca estive na cidade do Sena, não ambiciono ir lá". O autor reconhece a forte influência cultural e linguística da França em Portugal e, apesar de combatê-la, admite que:
Por várias razões, as expressões francesas, usadas por Portugueses, são muito mais numerosas do que as inglesas, as italianas, as espanholas, as alemãs, etc. O francês é pão nosso de cada dia; há em Portugal famílias, aliás distintas, as quais, antes do português, ensinam a falar francês às suas crianças, processo de que derivam desastrosas consequências, sob o ponto de vista da linguagem. (1912: 171)
O autor, conforme vimos em alguns exemplos, aceita os estrangeirismos apenas quando não há equivalente vernáculo, mas exige o aportuguesamento do termo em conformidade à "índole da língua". Mostra-se contrário às transformações linguísticas em geral, combatendo também os neologismos. Para ele, um neologismo só é válido para evitar o uso de um estrangeirismo, de modo que o ideal é, em primeiro lugar, o uso de um termo vernáculo, se não o houver, criar-se-á um neologismo e, por último, um estrangeirismo aportuguesado. Ao analisar o galicismo silhouette, admite que, no português, não há vocábulo com o mesmo significado e, nesses casos, recomenda o aportuguesamento que, "embora com a nota de neologismo, já está registrado em dicionários nossos: é silhueta." Ele conclui afirmando sua preferência pelo neologismo: "na colisão entre um vocábulo estranho e um neologismo não há o que hesitar." (1938: 63)
Cândido de Figueiredo enaltece frequentemente os brasileiros pela postura que, conforme suas palavras, adotam em relação aos estrangeirismos e aos neologismos. Além dos brasileiros, também cita os italianos, os espanhóis e até os ingleses:
‘Compareceram os ministros estrangeiros, os seus secretários, alguns attachés de legação ...'
Eu ia jurar que no Brasil ninguém, procurando escrever em português, se serviu inda do exótico attaché. Mas em Portugal, é o que se vê. [...] em Lisbôa são vulgaríssimos os estabelecimentos nacionais com taboletas francesas. (1938: 77)
Na análise da palavra hangar, Figueiredo nos informa que ela entrou no idioma português através do francês, mas possui uma origem distante. Ele aproveita para, mais uma vez, elogiar as atitudes dos brasileiros, afirmando que: "Neste ponto, como em muitos outros, dá-nos lição o Brasil, onde me parece que se não usa o ângar,trapiche. Mas como estamos mais perto da França, que do Brasil ..." (1938:40) usando-se o bom e antigo português
Um exemplo significativo da admiração que o autor tinha pelo Brasil encontramos nos comentários da palavra francesa menu. Ele comenta a criação da palavra cardápio pelo Dr. António Castro Lopes, originária, conforme sua análise, do latim caro+daps, e a adoção do termo principalmente na região sul do país. Para o gramático português, a formação dessa palavra foi arbitrária e, conforme seu ponto de vista, explica que:
Como os Brasileiros - honra lhes seja feita - detestem mais os galicismos do que nós, - aceitam às vezes neologismos extravagantes, que em Portugal dariam tema a caricaturas e gazetlhas. O cardápio é um dos tais. Não creio que ele vingue entre nós, nem realmente lhe descubro direitos a isso.
Em qualquer caso, nunca serão de mais os esforços que empreguemos para banir o feio e exótico menu. (1938:45)
Esse é um exemplo que mostra como a língua é independente das opiniões de gramáticos, pois, apesar da descrença do autor, cardápio é palavra em pleno vigor no português. Se, frequentemente, elogia os brasileiros pela atitude assumida diante dos galicismos, aos portugueses, ao contrário, o gramático não economiza críticas pela aceitação passiva dessas palavras, e refere-se aos franceses de forma irônica, como é possível verificar na análise do vocábulo caleche:
-
‘Partiu-se uma roda do caleche ...' -
Já não será fácil desterrar de cá o caleche, tão generalizado ele está.
A verdade, porém, é que não é nosso, nem precisamos dele.
Quando os Portugueses tinham mais juízo do que hoje, observaram o exemplo da vizinha Espanha e disseram caleça, designando por esta palavra uma carruagem ligeira de duas rodas e aberta adeante.
Mas depois os Franceses, que são mais ricos em fantasia do que em vocábulos, começaram a chamar caleche à carruagem de quatro rodas, aberta na frente; e os Portugueses [...] preferiram a francesia e deixaram a caleça agarrada a uns pequenos, feios e antigos veículos de duas rodas.
A isto desceu a caleça! Pois era digna de melhor sorte. (1938: 111)
Os exemplos que acabamos de citar servem para ilustrar como Cândido de Figueiredo ora aceitava, ora rejeitava, os galicismos presentes na língua portuguesa, e também os que ainda entravam no idioma naquele momento.
8- Considerações finais
Ao final desta pesquisa, gostaríamos de ressaltar, inicialmente, que sua realização permitiu-nos a comprovação da importância do estudo da intolerância linguística, na medida em que, como as outras formas de intolerância existentes, ela também pode ferir o indivíduo.
De fato, a partir da realização deste estudo, várias conclusões podem ser tiradas. Em primeiro lugar, a intolerância revelou-se, sem dúvida, um tema importantíssimo que suscita, inclusive, novas pesquisas. Vimos que, ao longo da história, ela assumiu dimensões trágicas, manifestando-se de diferentes maneiras. Ao construir o "outro" a partir de estereótipos, observando nele apenas o lado negativo, o intolerante torna-se cruel. Uma das grandes catástrofes do século XX foi a intolerância racial, responsável pelo maior crime de todos os tempos: o extermínio de 6 milhões de judeus. Verificamos que, além da intolerância racial, há outras formas de intolerância, como a étnica, a religiosa, a cultural, a linguística, e a xenofobia, que devem ser consideradas tão violentas quanto a racial, na medida em que atingem o ser humano no que ele tem de mais importante: suas crenças, suas escolhas, seu modo de vida, seu direito de ir e vir.
Neste estudo especificamente, verificamos que há diferenças entre o preconceito linguístico e a intolerância linguística, visto que o preconceito é uma idéia preconcebida que poderá confirmar-se ou não, é um descontentamento em relação à linguagem do outro que poderá ser superado. A intolerância linguística, ao contrário, é uma manifestação mais dura, realizada por meio de um discurso metalinguístico, normalmente direcionada às variantes linguísticas de menor prestígio, ou a uma outra língua. Assim, pudemos comprovar que, a partir da segunda metade do século XIX, a entrada e o uso de galicismos no português desencadeou formas de resistência, como a que analisamos neste trabalho.
No que concerne à questão da importação de palavras, este estudo mostrou que a palavra estrangeira desempenhou um papel importantíssimo no processo de formação das línguas e respectivas culturas. Atualmente, considera-se que o empréstimo linguístico é tão antigo quanto a própria língua. Na realidade, verificamos que o empréstimo é um dos processos de criação lexical responsável pela renovação e expansão do léxico, por intermédio dos neologismos que surgem.
Cândido de Figueiredo foi, de fato, um crítico severo à influência francesa na língua e na cultura portuguesa. Na sua autobiografia, escrita em 1919, reconhece o desamor com que muitas vezes referiu-se ao idioma francês, julgando como nefasta a influência que ele exercia no português. O adjetivo nefasta é apenas um exemplo do teor intolerante do discurso do gramático, que fazia questão de evidenciar, inclusive, sua incompatibilidade ideológica com a França. Para ele, de todas as línguas, o francês foi, sem dúvida, a que mais influenciou o português. O autor dedica-se a analisar e descrever a supremacia cultural e linguística francesa naquele momento, e conclui que o "dano" causado pelos galicismos à língua portuguesa foi incalculável. Contudo, observamos que, apesar de reconhecer a força do uso linguístico, o gramático assume uma postura absolutamente corretiva, prescritiva, diante dos galicismos.
Este estudo nos mostrou também que a linguagem veicula a ideologia de quem a usa, na medida em que expõe a visão de mundo e valores do enunciador. As palavras estrangeiras marcam a presença do "outro" entre nós, e o galicismo é a língua do "outro" que deseja se fixar no nosso mundo, mas nem sempre somos capazes de aceitar esse estrangeiro. Assim, além das estratégias de persuasão que acabamos de citar, o gramático personificava frequentemente os galicismos que analisava, transformando-os em estrangeiros ilegais, inconvenientes, cuja presença causaria inúmeros danos à língua e à cultura. Usando palavras portadoras de uma carga semântica muito negativa, como tísica, dano, plantas daninhas, estrangular, hipocrisia, inútil, nocivo, construía a imagem do "outro".
Além disso, verificamos também que poucos galicismos foram aceitos pelo gramático, mas, até mesmo no discurso de aceitação, encontramos marcas de intolerância. Em suma, observamos que o combate aos galicismos por Cândido de Figueiredo evidencia um problema ideológico com a sociedade francesa e que, ao rejeitar os galicismos, ele está, na realidade, rejeitando a concepção de vida e os valores franceses. Contudo, concluímos que, muito mais forte que esse problema ideológico com a França e a língua francesa, o discurso do gramático revela, além do purismo linguístico que ele sempre enfatizou e assumiu com convicção, principalmente sua intolerância diante da possibilidade de renovação da língua.
Referências bibliográficas:
BAKHTIN, (Voloshinov - 1929). Marxismo e Filosofia da Linguagem. (Tradução de M. Lahud e Y. F. Vieira) São Paulo: Hucitec, 1999.
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Negociação de temas e figuras na conversação. In: Preti, Dino. Léxico na língua oral e na língua escrita. São Paulo: Humanitas, 2003.
FIGUEIREDO, Cândido de. Estrangeirismos. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1938.Volume I. 5ª edição.
________ . Estrangeirismos. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1912. Volume II
________ . Os meus serões. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1928.
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1989.
________. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2003. (Série Princípios, 137)
LANDOWSKI, Eric. Présences de l'autre. Paris: Presses Universitaires de France, 1997.
LEITE, Marli Quadros. Metalinguagem e discurso - a configuração do purismo brasileiro. São Paulo: Humanitas, 1999.
__________. A intolerância lingüística na imprensa. São Paulo, 2005.(inédito)
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2002.
___________. L'Énonciation en Linguistique Française. Paris: Hachette, 1991.
ROUANET, Paulo Sérgio. O Eros da diferença. In: Caderno Mais. São Paulo: Jornal Folha de São Paulo, 09/02/2003.