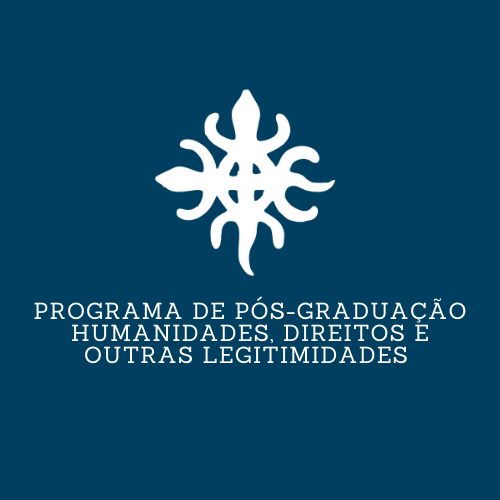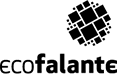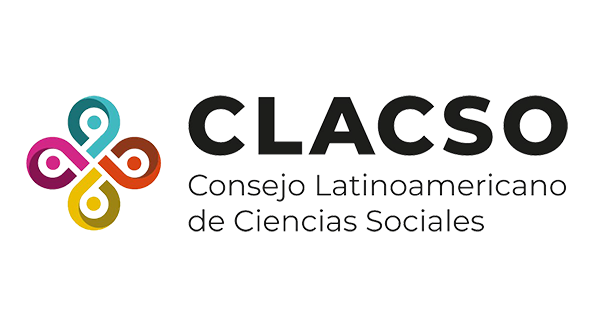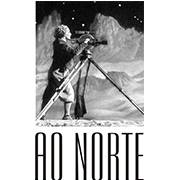Renato da Silva Queiroz
Um fenômeno violento é o que se impõe a um ser contrariamente à sua vontade, e se exerce com força impetuosa contra aquele que se apresenta como obstáculo. Envolve o uso da força, sobretudo quando dirigida para alguém. Por sua vez, violar significa agir com violência, ultrajar, coagir, obrigar pessoas a praticar um ato contra a sua vontade. Já agressão é o ato em si, isto é, a ação de avançar na direção de alguém. Teoricamente, poderia ser um ato neutro, mas a ideia de hostilidade aí logo se concretizou e se ampliou, pois é possível agredir com armas, palavras etc.
Propor uma definição implica estabelecer limites. Veja-se, por exemplo, os comportamentos de espécies predadoras, cujas matanças não seriam sensatamente definidas como condutas agressivas, assim como não agressiva seria a injeção de antibióticos numa criança que, reagindo à dor da picada, se põe a chorar. Em contrapartida, não passaria despercebida a agressividade verbal e emocional implícita numa situação em que o marido ignora a mulher que de tudo se queixa e o critica (Johnson, 1979).
A recorrente polarização inato versus aprendido permeia os estudos devotados ao comportamento agressivo humano, neles fazendo-se representar especialistas partidários da concepção segundo a qual a agressividade está sujeita a influências inatas ou instintivas, situando-se, no pólo oposto, os que postulam ser a conduta violenta afetada exclusivamente por fatores aprendidos. Não são raros, ademais, os pesquisadores que se restringem à elucidação de comportamentos agressivos individuais, divergindo assim daqueles que focalizam as ações coletivas, sociais. Vê-se, pois, que motivações, contextos, intenções, funcionalidade, consequências, papéis e modalidades da conduta agressiva dão margem a um debate tão acalorado quanto por vezes estéril, sobretudo se referido a uma "natureza humana" indeterminada.
O homem é um animal que se domesticou a si mesmo com a emergência da cultura, não tendo à sua disposição, portanto, um modo de vida "natural" anterior à domesticação ao qual possa retornar (Lévi-Strauss, 1976; Geertz, 1978). A máxima "o homem fez-se a si mesmo" - configurando-se, a um só tempo, como produtor e produto da cultura - encontra pleno sentido na medida em que se leva em conta a nossa trajetória evolutiva, caracterizada pela seleção de aptidões (genes) para o comportamento cultural. Segundo a feliz expressão de Bussab e Ribeiro (1998), os humanos são biologicamente culturais.
A cultura pode ser compreendida como um mecanismo criador de protocolos nos domínios em que os ditames da natureza - genéricos, em nosso caso - foram deixados na indeterminação. Neste vazio, a cultura regulamenta as condutas, e o faz mediante notável variabilidade, que se manifesta por meio de normas, valores e modos padronizados de agir, pensar e sentir. Daí a diversidade cultural, tão cara aos antropólogos. Mas este é um mecanismo adaptativo, com suas razões práticas e simbólicas, sendo em geral impossível determinar qual destas razões deita raízes mais profundas em nossa condição de seres portadores de cultura.
Também não se pode esquecer que evoluímos num passado ancestral, as pressões seletivas pretéritas devendo ter contribuído para a seleção de inclinações que ainda hoje se fazem presentes - embora nem sempre sejam ativadas - em nosso repertório comportamental, mesmo que se possam revelar, no mundo moderno, desprovidas de valor de sobrevivência. Assim, pressupor que um determinado nível de agressividade filogeneticamente adquirida seja parte integrante da nossa herança evolutiva não significa dizer que somos "macacos assassinos", prisioneiros de um impulso primitivo irracional ou que quaisquer iniciativas pacifistas destinam-se ao insucesso (Pinker, 2004). Mas não se deve igualmente subestimar a agressividade a partir da mera suposição de que se trata de um comportamento exclusivamente aprendido.
Informações colhidas em praticamente todas as sociedades humanas parecem assegurar que em nenhuma delas se desconhece alguma modalidade de conduta agressiva. De todo modo, há as que valorizam e estimulam a agressividade, caracterizando-a como virtude, coragem e heroísmo, ao passo que outras atribuem valor positivo à passividade ou à resolução pacífica de conflitos. O modo como são socializados os imaturos desempenha, em ambos os casos, um papel crucial (Mead, 1979), pois é sabido que a conduta agressiva humana não obedece a padrões definidos.
A literatura disponível sobre o comportamento animal revela que nas espécies sociais um certo grau de agressividade entre os congêneres reveste-se de funcionalidade, pois contribui para a manutenção de um optimum de dispersão territorial, o que minimiza as chances de disputas mais ferozes por alimentos e parceiros sexuais (Gomide, 1996). Gomide também esclarece que os padrões comportamentais de agressividade inter-específica diferem daqueles que moldam a intra-específica. Neste último caso, comportamentos de submissão e apaziguamento costumam ser inibidores eficazes da agressão, sobretudo entre os animais dotados de armas biológicas mortíferas, justamente os que desenvolveram controles rigorosos para impedir que os embates intra-específicos possam provocar ferimentos graves ou levar o oponente à morte.
Uma sugestiva tese sustenta que, por não terem sido evolutivamente dotados de armas biológicas mortíferas - cascos, grandes caninos, venenos, chifres afiados, etc. -, os humanos também não desenvolveram inibições mais elaboradas e outras modalidades de controle instintivo capazes de impedir que eventuais embates agressivos pudessem ocasionar a morte do adversário. Todavia, a nossa capacidade de produção de instrumentos de defesa e ataque surgiu bem cedo - talvez já com o Homo habilis e seus instrumentos líticos rudimentares -, tudo fazendo crer que o lento ritmo da evolução não acompanhou a aquisição, bem mais acelerada, das habilidades para confecção e uso de armas. Sendo procedente tal tese, pode-se argumentar que a cultura proporciona aos humanos os instrumentos empregados nas condutas agressivas, assim como os seus mecanismos inibidores.
Richard Leakey (1982), lembrando que o comportamento humano mostra-se profundamente sensível às condições ambientais - sejam as do meio físico, sejam as do contexto social -, observa que boa parte da agressividade manifesta-se por meio de rituais, não sendo os humanos portadores de uma poderosa inclinação inata para a violência nem para o convívio pacífico, cabendo à cultura o grosso da definição dos padrões que configuram as formações sociais. Nessa linha de raciocínio, pode-se presumir que a distribuição desigual da riqueza social e sua apropriação por meios violentos, a prevalência de sistemas autoritários de controle social, a persistência de estruturas sociais promotoras de privação, frustração e pauperização - nas quais se atribui legitimidade à resolução de conflitos através da violência -, ademais de ambientes aversivos porque degradados e marcados por elevados índices de concentração demográfica, tudo isso, enfim, favorece o comportamento agressivo (Gomide, 1996).
Condições ambientais adversas podem predispor à conduta agressiva, mas não a determinam mecanicamente. Além da dor, determinadas características alteradas do ambiente, como calor e ruídos excessivos podem predispor à agressividade. Tinbergen (1978) não se esquece de que a fuga e diversas outras condutas visando ao apaziguamento do adversário devem receber cuidadosa atenção do pesquisador. Ressalta, além disso, que o conflito estabelecido entre ataque e fuga dá margem a comportamentos curiosos (imobilidade repentina, pastar). Resulta daí a convicção de que a agressão é simplesmente um componente de um sistema adaptativo mais amplo. Convém lembrar, a propósito, que as formas de cooperação talvez estejam tão enraizadas em nosso passado evolutivo quanto a inclinação ao comportamento violento. E ambas as inclinações podem ser atribuídas ao nosso "estado interno". Nas palavras de Oswaldo Frota-Pessoa (1996), "em seu relacionamento social, o homem apresenta duas tendências opostas e complementares: a da solidariedade e a do antagonismo. Ambas têm base genética, reforçada pela cultura. A primeira deriva do instinto de proteção à prole, sem o qual a humanidade não persistiria. A segunda é a agressividade contra o estranho, para preservar e favorecer a família. Acontece, porém, que o desenvolvimento da cultura dilatou o círculo da solidariedade, para abarcar sucessivamente a família ampla, a tribo, a nação, a humanidade e até os animais, de modo que, embora mais leais com os íntimos, não negamos apoio a associados distantes".
O fenômeno universal do etnocentrismo - ponto de vista segundo o qual os costumes e os traços fenotípicos de um grupo são vistos pelos seus membros como superiores a todos os outros - parece reforçar essa tese, assim como a pluralidade de idiomas, já que cada língua presta-se à comunicação (e à aproximação) entre os falantes, inviabilizando-a, contudo, entre os não-falantes.
As supracitadas indicações de Leakey, pertinentes à ritualização da agressão, aproximam-se da seguinte passagem de Eibl-Eibesfeldt (1977): "A agressividade possui, em princípio, uma expressão universal idêntica. O ato agressivo de impressionar através de ornamentos, armas ou do porte masculino, apresenta nas diversas culturas traços fundamentalmente idênticos. Para se tornarem maiores e mais imponentes, as pessoas usam enfeites de penas, barretes de pele de urso etc., acentuam a musculatura e as articulações apertando-as com correias ou ornamentos e frequentemente exageram a dimensão de seus ombros. As pessoas mostram-se descontraídas e adotam uma expressão de desprezo para dar nas vistas. Tanto quanto foi possível observar, a mímica que acompanha o comportamento de ameaça e ira é idêntica em todas as culturas. Os indivíduos das mais diversas regiões culturais, quando irados, batem com o pé no chão - provavelmente uma intenção de ataque ritualizado - e cerram os punhos quando aborrecidos".
Tais observações convergem para as anotações feitas por Darwin (2000) na descrição da mímica dos enfurecidos: corpo bem ereto, pronto para a ação imediata, ou dobrado para frente, na direção do agressor; narinas dilatadas; exibição de dentes rangendo ou cerrados; braços que se levantam, com os punhos fechados, como se fossem golpear o agressor; pupilas contraídas, etc. Tais manifestações caracterizam a fúria, e parecem ser traços comportamentais universais. Todavia, essa prontidão não significa que a conduta agressiva será de fato consumada, pois o comportamento humano é amplamente submetido ao controle cortical, muito raramente se sujeitando à simples determinação hormonal.
Há aqui duas questões importantes. Em primeiro lugar, como bem mostrou Darwin (2000), o homem parece partilhar com outros animais variadas exibições ritualizadas (ameaças) de agressividade - a exposição dos caninos, o eriçamento de pelos etc. -, indo contudo bem mais longe, na medida em que acrescenta a essa linguagem não verbal um amplo e variado repertório de manifestações simbólicas, valendo o mesmo para gestos e posturas de submissão e apaziguamento (agachar, abaixar a cabeça, etc.). Tudo isso reforça a compreensão de que a capacidade de luta constitui apenas um entre muitos caminhos que levam à sobrevivência, a agressividade decerto não tendo merecido favorecimento automático no processo evolutivo (Gomide, 1996).
As modalidades humanas de conduta agressiva são próprias à espécie. Em outras palavras: a despeito de sua proximidade filogenética com outros primatas, os humanos exibem características singulares nesse domínio. Embora se possa postular a existência de uma base inata para a agressividade, isso tem sentido apenas em termos de probabilidade de que tal conduta poderá se manifestar em determinados ambientes (ou seja, respostas que aparecem ou desaparecem em circunstâncias particulares), e não em todos os ambientes. Somente à luz desse critério é admissível a idéia de que os humanos têm uma predisposição hereditária ao comportamento agressivo.
As formas particulares de violência organizada não são herdadas, embora se possa perceber uma predisposição inata para a construção de um aparato cultural agressivo, quando isso ocorre. Segundo Wilson (1987), a evolução cultural da agressão parece estar orientada conjuntamente pelas seguintes forças: 1) predisposição genética voltada para o aprendizado de alguma modalidade de agressão comunal; 2) necessidades impostas pelo ambiente no qual se encontra a sociedade; 3) a história prévia do grupo, que se inclina para a adoção de uma inovação cultural ao invés de outra. Em outras palavras: a cultura filtra e dá formas particulares à conduta agressiva, pois ela não se manifesta como uma modalidade de instinto genérico e unitário. Ao contrário: constitui um traço genético dos mais moldáveis, sobretudo no caso dos humanos.
Concepções menos flexíveis encontram-se nos argumentos de Lorenz (1979), para quem o instinto agressivo não só é constitutivo dos humanos como deve ser "descarregado" (nos esportes, entre outras atividades) para não se manifestar de modo destrutivo nas interações sociais. Em alguma medida, essas idéias avizinham-se do pensamento freudiano, segundo o qual seria impossível eliminar os impulsos agressivos do homem, sendo, entretanto, suficiente redirecioná-los (Freud, 1976). De outro lado, as considerações de Montagu (1968) são menos categóricas, e contêm reparos às desenvolvidas por Lorenz e outros, cujas teses estariam contaminadas de interpretações equivocadas sobre as nossas ancestrais condições de existência, e de observações retiradas do comportamento animal e aplicadas, sem as necessárias ressalvas, ao comportamento humano.
Acredita-se que o estudo de primatas não-humanos possa lançar alguma luz sobre as condutas humanas. É o que pretendem, por exemplo, Wrangham e Peterson, no livro O Macho Demoníaco (1996), obra em que cotejam o comportamento agressivo humano com o de chimpanzés, gorilas e orangotangos. Os autores contornam os riscos das abstrações generalizantes, pois situam os episódios agressivos nos respectivos contextos sociais daqueles primatas, o que lhes permite concluir que a violência segue, em cada espécie, padrões bem peculiares. Os machos tendem a ser mais agressivos em todas elas, mas em cada cenário específico há um valor para a conduta violenta. Trata-se, amiúde, de êxito reprodutivo, dependente não apenas de comportamentos rigidamente programados, mas também do grau de inteligência e do espaço aberto ao aprendizado observáveis em cada uma daquelas espécies.
De acordo com Wrangham e Peterson, a riqueza das interações sociais varia conforme o grau de inteligência e das capacidades cognitivas de cada espécie estudada, donde a menor ou maior plasticidade das interações sociais estabelecidas. Em suas palavras, "A inteligência transforma afeição em amor e agressão em punição e controle". Em outra passagem, escrevem que "Os abraços, apertos e beijos dos primatas são tão elaborados quanto seu emprego da força bruta". E concluem que a intensa violência observada entre primatas, ao contrário de irromper como uma expressão irracional de algum profundo traço bizarro ancestral, surge, em parte, das elaborações inerentes à suas capacidades cognitivas.
As generalizações pertinentes aos humanos comprometem, contudo, boa parte do esforço empreendido para a compreensão do comportamento dos mencionados primatas, faltando aos autores uma perspectiva que os levaria a considerar os variados contextos em que se dá o processo de humanização. Se entre chimpanzés, gorilas e orangotangos são limitadas as variações no modo como se estruturam e interagem, a despeito do elevado nível de inteligência desses primatas, entre os humanos a diversidade das formações sociais é tão rica no tempo e no espaço que muito dificilmente poder-se-ia postular uma rigidez de padrões universais de comportamento. Além disso, os humanos representam simbolicamente para si e para os outros as suas ações, sendo também capazes de controlá-las e mesmo de contrariar inclinações instintivas.
Na medida em que os eventos agressivos não podem ser tomados como unitários, sua ocorrência e percepção estando sujeitas a múltiplos fatores - biológicos, socioculturais, psicológicos, ecológicos, históricos etc. -, impõe-se aqui uma abordagem interdisciplinar. Entretanto, a interdisciplinaridade amplia os riscos das generalizações, que se traduzem costumeiramente nas seguintes expressões: "ao fim e ao cabo", "no limite", "feitas todas as considerações", "em última análise", "tudo está em jogo", etc. Se uma abordagem holística se revela vantajosa nos momentos de síntese, um reducionismo saudável não é de pouca valia nas circunstâncias em que as variáveis precisam ser isoladas. Não se trata, pois, de reduzir o todo, portador de propriedades emergentes, às suas partes constituintes, mas sim de definir quais são essas "partes" e identificar a lógica que orienta a complexidade das suas interações.
O senso comum confere valor negativo à agressividade. Condutas agressivas são passíveis de reprovação, censura e repressão. Entretanto, numerosas formações sociais se estruturam mediante a institucionalização da violência legitimamente monopolizada pelo Estado. Os aparelhos estatais, notadamente as instituições policiais, recorrem à violência (virtual ou manifesta) nos termos da lei, e, em muitos casos, ao arrepio dela. E a brutalidade não se materializa somente no uso de armas de fogo, cassetetes e outros equipamentos, mas se evidencia também em dimensões simbólicas e expressivas - mas nem por isso menos eficazes -, e nos instrumentos do pavor, como, por exemplo, nos uniformes militares, sirenes, vocalizações, ruídos provocados pela percussão dos cassetetes nos escudos, etc (Duvignaud, 1979). Nem mesmo as sociedades desprovidas de Estado - as sociedades "primitivas" - são intocadas de desavenças que descambam para agressão, como já foi descrito por etólogos e antropólogos (Clastres, 1982; Eibl-Einbesfeldt, 1979).
Parte expressiva do comportamento agressivo humano na atualidade, exceção feita às condutas devidas a condições sociais anômicas (banditismo desregrado, manifestação de turbas, linchamentos etc.), manifesta-se de acordo com os ritualismos típicos das formações sociais assimétricas. Seja ao abrigo dos procedimentos legais, seja nos conformes dos protocolos da cultura popular e mesmo da erudita, a agressividade pouco ameaça a ordem estabelecida. Pelo contrário: a reforça. É certo que nos movimentos revolucionários a subversão do status quo se faz usualmente mediante extrema violência, banhos de sangue, assassinatos em massa, etc. Mas na vida quotidiana os mecanismos que nos levam a nutrir profunda identificação com os valores e normas vigentes impedem-nos de perceber a arraigada institucionalização do comportamento agressivo. Essa violência institucionalizada consubstancia-se, simbolicamente, em estátuas, pinturas e advertências tenebrosas, nos hinos, inscrições e monumentos, e de igual modo nos relatos e trajetórias de heróis e personagens históricos, míticos e lendários.
Nas instituições totais - conventos, prisões, manicômios, quartéis, etc. -, a mortificação do "eu"1, nos termos propostos por Goffmann (1974), reveste-se de significados indiscutivelmente agressivos. Regulamentos e práticas que sustentam essa mortificação são escritos, afixados, aprovados em assembleias e mesmo editados.
De modo semelhante, no processo de socialização das crianças não é incomum o uso de variados procedimentos "educativos", muitos deles dotados de inequívoca orientação agressiva e, mesmo assim, revestidos de legitimidade: castigos, palmadas, ameaças, confinamento, desqualificação e outras modalidades de punições materiais e verbais. A nossa cultura legitima o recurso à agressividade como mecanismo de educação dos jovens e imaturos, concedendo certa liberdade e legitimidade àqueles que fazem uso da violência para coibir as condutas "desviantes", manifestações de inconformismo e desobediência.
Nas sociedades complexas, segmentadas e hierarquizadas em classes, estamentos ou castas, o comportamento agressivo assume feições singulares. Os mais diversos recursos empregados para submeter e intimidar os subalternos não podem prescindir de elevadas doses de agressão física e simbólica. Diz-se que "trabalho", por exemplo, origina-se do latim tripalium, instrumento composto de três partes em que se prendia o escravo para puni-lo. Ademais, assim como sob o capitalismo a riqueza é abocanhada por poucos, e distribuídos entre muitos os seus custos, tanto quanto as consequências nefastas desse modo de produção, ocorre o mesmo com a violência, como atestam os indicadores de criminalidade.
Intensamente agressivas são ainda as manifestações intolerantes de preconceito, que se materializam em discriminação, segregação, genocídio e "limpeza étnica". É comum os antagonismos que afloram na afirmação de pretensas superioridades raciais, nacionais, políticas, étnicas e religiosas favorecerem a formação de organizações como a Ku-Klux-Klan, esquadrões da morte e grupos de extermínio.
Já nas relações internacionais o recurso à guerra dá margem a conflitos ainda mais sangrentos, sendo bem conhecidas as suas implicações mais evidentes, mas nem por isso menos merecedoras de investigação. O estupro em massa das mulheres do grupo derrotado, por exemplo, costuma ser utilizado como técnica de vingança, domínio e intimidação empregada pelos vencedores. Mas há guerras e guerras...
No cenário das sociedades indígenas de terras baixas na América do Sul, os presentes trocados eram dados e tomados na ponta das lanças. Hostilidades inter-grupais decorriam, frequentemente, de trocas mal sucedidas, de tal modo que guerra e comércio, segundo Lévi-Strauss (1976), constituíam faces da mesma moeda. Todavia, nessas formações, como nas paleolíticas em geral, não havia como liberar segmentos demográficos da produção direta dos meios de subsistência, com o que se inviabilizava a formação de exércitos ou milícias.
Se a violência serve à sustentação de assimetrias nas formações sociais desiguais, sendo aceita, a despeito disso, como legítima, nas sociedades "primitivas" a conduta agressiva prestava-se, paradoxalmente, à reprodução de sistemas sociais igualitários. Tal tese está exposta nos escritos de Pierre Clastres (1974; 1982), cujas reflexões a respeito das torturas praticadas nos rituais de passagem afirmam que a razão principal das mutilações, perfurações e escarificações deixadas nos corpos dos iniciandos não residia na feitura de marcas tribais de pertinência e identidade, nem em testes de virilidade dos futuros adultos, mas consistia sobretudo na marcação, sob a forma de uma escrita no corpo, da lei primeira dessas sociedades: ninguém é superior a ninguém.
Ainda de acordo com Clastres (1982), no contexto das sociedades desprovidas de Estado a guerra inter-tribal desempenhava um papel crucial: as hostilidades entre os diversos grupos locais os mantinham autárquicos, dispersos e atomizados, impedindo que se agrupassem em formações mais complexas em que o Estado pudesse emergir. Deste modo, os agrupamentos permaneciam internamente coesos e externamente desmembrados, preservando um modo de vida avesso à concentração do poder num órgão separado da sociedade e imune às desigualdades sociais.
Mas a agressividade no cenário das sociedades "primitivas" não se restringia aos embates guerreiros, muitos deles travados em razão de raptos de mulheres. Nas trocas agonísticas, em que os opositores (clãs, grupos de família, etc.) destruíam excedentes visando humilhar o competidor, as hostilidades eram nítidas. Feitas as devidas ressalvas, pode-se dizer o mesmo dos tradicionais desafios musicais que tinham lugar no mundo rural tradicional, marcados por forte hostilidade verbal.
O estudo da agressão exige, pois, a contextualização do fenômeno. A despeito da multiplicidade de fatores envolvidos na conduta agressiva (biológicos, psicológicos, ambientais, socioculturais etc.), ela só ganha sentido se localizada em quadros socioculturais específicos. Fenômeno universal, o modo como o comportamento agressivo se expressa e é simbolicamente representado só poderá ser objeto de compreensão nas particularidades dos contextos sociais. Entretanto, esse postulado não aponta para a negação de uma base inata da conduta agressiva, e muito menos para o descrédito de sua filogenia. As diferentes formas culturais de expressão da agressividade devem ser compreendidas do mesmo modo como se enquadra, numa abordagem interdisciplinar, o comportamento humano em sua totalidade, pois os requisitos para a vida social humana foram estabelecidos ao longo de prolongado processo evolucionário, com seleção de complexos anatômicos, fisiológicos e comportamentais inter-relacionados.
As escolas, em larga medida, evocam as instituições totais: a "mortificação do eu" evidencia-se nos trotes acadêmicos; e os rigores da disciplina imposta aos estudantes encontram legitimidade nos regulamentos e regimentos, muitos dos quais ainda mantêm as características autoritárias estabelecidas pelo regime militar.
É curioso observar que, ao invés de estimular a cooperação e promover a tolerância, a escola costuma favorecer a competição por meio de concursos, da valorização das melhores notas etc. Entre os índios Parakanã do sul do Pará, ao contrário, as crianças que frequentam a escola da aldeia não sabem como lidar com as tarefas competitivas propostas pela professora.
Um dos recursos empregados para fomentar a cooperação e demonstrar que cooperar é mais saudável do que competir consiste em atribuir segmentos de uma tarefa complexa a diferentes subgrupos ou indivíduos, de modo a ensiná-los que a interdependência e a ação solidária promovem a coesão grupal e constituem mecanismos mais eficientes que a competição para levar a bom termo a tarefa proposta.
Ficamos indignados com as condutas anti-sociais dirigidas à escola (depredações, furtos, vandalismos) e com os comportamentos violentos nela observados (os episódios norte-americanos são os mais dramáticos). Todavia, a escola é parte integrante do meio social, e até mesmo o reforça. Seus valores e objetivos não divergem daqueles estabelecidos pela e na sociedade envolvente, com o que a escola pode ser encarada muito mais como uma agência conservadora do que como uma instituição promotora de mudanças. A violência que atinge a escola é, pois, da mesma natureza da praticada pela escola.
Nos grandes centros urbanos brasileiros a escola pública é vista como "escola de pobre": suas instalações são precárias, bibliotecas e laboratórios são inexistentes ou insuficientes, seus professores são mal-remunerados, as vagas são escassas e os prédios se localizam em áreas degradadas, distantes da atuação regular do poder público. Portanto, essas instituições reproduzem e expressam a assimetria social, do mesmo modo que a violência, que também não é igualmente distribuída, cabendo aos segmentos subalternos o preço mais elevado dos embates agressivos.
Note-se, por fim, que a rarefação das oportunidades de trabalho e de ascensão social, o enxugamento do Estado e a consequente ausência de mediação institucional abrem caminho para soluções pessoais e violentas de conflitos, donde a sedução do ganho mais fácil e imediato por meio de condutas e organizações criminosas. Ademais, a ideologia dominante (que valoriza o trabalho e o conformismo) é incapaz de dar conta das contradições que se manifestam nas margens do sistema estabelecido, contribuindo para que a escola seja desvalorizada.
REFERÊNCIAS
Bussab, V. S. & Ribeiro, F. L. (1998). Biologicamente cultural. In Souza, L.; Freitas, M. F. Q. e Rodrigues, M. M. P. Psicologia. Reflexões (im)pertinentes. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Clastres, P. (1974). La société contre L'État : recherches de anthropologie politique. Paris : De Minuit.
Clastres, P. (1982). Arqueologia da violência: ensaios de antropologia política. São Paulo: Brasiliense.
Darwin, C. (2000). A expressão das emoções no homem e nos animais. São Paulo: Cia. Das Letras.
Duvignaud, F. (1979). Pour une sociologie de l'effroi : note sur l' épouvantail. Cahiers Internationaux de Sociologie. LXVI, 151-160.
Eibl-Eibesfeldt, I. (1977). Amor e ódio: história natural dos padrões elementares do comportamento. Lisboa: Livraria Bertrand.
Eibl-Eibesfeldt, I. (1979). Etologia: introducción al estudio comparado del comportamiento. Barcelona: Ediciones Omega.
Freud, S. (1976). Por que existe a guerra?. In: Megargee, E. & Hokanson, J. E. (orgs.) - A dinâmica da agressão. São Paulo: Edusp.
Frota-Pessoa, O. (1996). Raça e eugenia. In: Schawarcz, L.M & Queiroz, R.S. (orgs.) - Raça e Diversidade. São Paulo: Edusp/Estação Ciência
Geertz, C. (1978). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Goffmann, E. (1974). Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva.
Gomide, P. I.C. (1996). Agressão humana. Torre de Babel, 3, 71-87.
Gosso, Y. (2005). Pexê-oxêmoarai: as brincadeiras de crianças dos índios Parakanã. São Paulo, Tese de doutorado, Departamento de Psicologia Experimental, IP-USP.
Johnson, R.N. (1979). Agressão nos homens e nos animais. Rio de Janeiro: Interamericana.
Leakey, R. (1982). Origens. São Paulo: Melhoramentos.
Lévi-Strauss, C. (1976). As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis : Vozes
Lorenz, K. (1979). A Agressão: uma história natural do mal. Lisboa: Moraes Editores.
Mead, M. (1979). Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva.
Montagu, M.F.A (1968). The new litany of "inate depravity", or original sin revisited. In: ---- (ed) Man and aggression. New York: Oxford University Press.
Pinker, S. (2004). Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São Paulo: Cia. Das Letras.
Tinbergen, N. (1978). On war and peace in animals and man. In: Caplan, A.L. The sociobiology debate. New York: Harper & Row.
Wilson, E. O. (1987). Agression. In: --- La sociobiologie. Paris : L'Esprit et la Matière/ Le Rocher.
Wrangham, R. & Peterson, D. (1998). O macho demoníaco. Rio de Janeiro: Objetiva.
1 A "mutilação do eu", segundo Goffman (1974), traduz a deterioração da identidade dos indivíduos no âmbito das "instituições totais" - manicômios, prisões, conventos etc. - por meio de rígidas práticas disciplinares que visam à homogeneização, fazendo com que eles se esqueçam dos seus antigos papéis sociais.