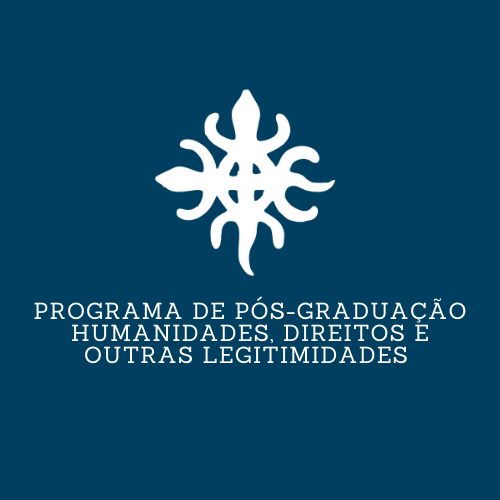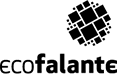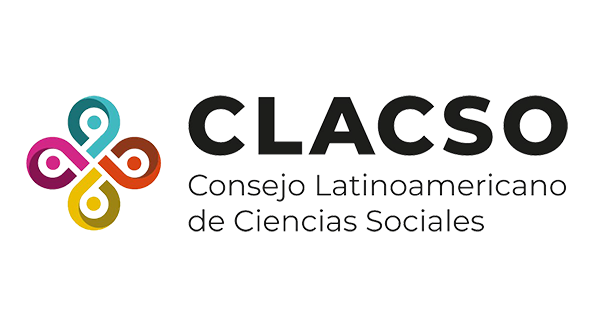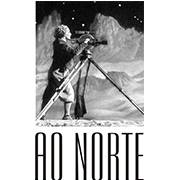Valério Schaper
Introdução - A intolerância religiosa
O escritor argentino, Jorge Luis Borges, escreveu em seu livro "El Aleph" (1949) um conto intitulado "Los teologos". Neste conto, em meio às disputas contra as heresias, dois teólogos mantinham uma disputa particular. Não obstante estarem ma mesma trincheira, o zelo pela verdade, que se confunde com vaidade intelectual, os opunha.
Ao final, neste contexto da perseguição às heresias, que acendeu fogueiras no afã de purificar a verdade pelo fogo, percebe-se que a heresia (etimologicamente significa a escolha de um partido, uma opinião) mais terrível é aquela que se confunde com a ortodoxia. Um dos teólogos, Aureliano, através da denúncia de uma nascente heresia, acabou por condenar à fogueira o outro, Juan de Panonia, por este ter, tempos atrás, abraçado uma tese, que havia sido considerada perfeitamente ortodoxa em outro momento. A intolerância é pouco afeita às sutilezas especulativas.
O conto encerra-se no céu, quando Aureliano, ao encontrar Deus, percebeu que Ele tinha pouquíssimo interesse nas diferenças religiosas e o confundiu com o seu adversário, Juan de Panonia. Perplexo, Aureliano deu-se conta de que, para a insondável sabedoria divina, ele e Juan, o suposto ortodoxo e o suposto herege, formavam uma só pessoa.[1]
É desnecessário que eu diga que há um vínculo atávico entre intolerância e religião. E como vimos, esta intolerância não se direciona exclusivamente aos que estão fora do círculo comum, mas pode se voltar contra os irmãos de armas. A intolerância tem uma lógica muito peculiar. É forçoso admitir de saída que a intolerância jamais nasce de uma "má fé" (digo isso com perfeita consciência da ironia do termo, sobretudo para um teólogo), mas ela é antes fruto de uma fé exacerbada, de uma paixão descontrolada pela verdade.
I - A tensão: tolerância e intolerância no pensamento cristão
1.1 - Cristãs/ãos: minoria dissidente no Império Romano
O cristianismo nasceu sob o signo da dissidência e cresceu como prática minoritária divergente em contextos hostis. Seus movimentos de auto-constituição dentro do Império Romano indicam complexas tramas de exclusão, inclusão, assimilação. Tanto mais se diferenciava, tanto mais se tornava alvo de perseguição.
Entretanto, o cristianismo contou, em vários momentos, com a boa vontade do Império[2], como podemos ler, por exemplo, no Rescrito de Galieno, de 261, que fala de "indulgência"[3] e restaura a liberdade de culto aos cristãos. São famosos ainda os Editos de 311, e o de Milão, de 313[4], que estabelecem, ao fim, plena liberdade de consciência religiosa no Império. Contudo, sabemos aonde conduziu o usufruto da "tolerância" constantiana.
1.2 - A urbanização do discurso cristão e o mundo gentio
Tendo sido objeto da "tolerância"[5] nos seus inícios, o cristianismo converteu-se em instituição com um corpo doutrinal hegemônico da qual se passa a esperar tolerância. O cristianismo nem sempre foi indulgente, menos ainda tolerante. Porém, é importante mencionar, a título de exemplo, que grandes nomes da teologia cristã esforçaram-se por apresentar compreensivamente o universo de outras religiões e, de forma discursiva, o credo cristão.
Mencione-se inicialmente Pedro Abelardo (1079-1142), importante teólogo medieval, cujo livro "Diálogo entre um Filósofo, um Judeu e um Cristão", escrito no fim de sua vida, entre 1140-2, narra uma visão noturna em que Abelardo imagina um tolerante encontro de religiões, personificado nos três personagens (um cristão, um judeu e um filósofo muçulmano). Trata-se, na verdade, de uma controvérsia, mantida em diálogo amigável, orientada pela verdade, sob a reivindicação da razão e da lei natural. Abelardo antecipa a atitude do religioso "esclarecido" (aufgeklärt). Na Europa prestes a mergulhar na escuridão da inquisição, ele tem uma visão noturna em que sonha com uma coexistência pacífica das religiões - prenúncio de uma aurora? - as quais se sabem, para além de todos os dogmas, unidas na busca de um bem maior e de uma visão de um Deus, no qual todas as pessoas, de boa vontade, podem tomar parte.[6]
Outro texto significativo foi escrito por Raimundo Lúlio (1232-1316), teólogo leigo catalão que viveu em Maiorca entre os muçulmanos (sarracenos), pouco mais de um século depois. Entre os anos 1274-6 ele compôs o "Livro do Gentio e dos três Sábios" para, supõe-se, fins didáticos. Em sua história um gentio, diante da morte iminente, está à procura da verdade e encontra-se com três sábios religiosos (um judeu, um cristão, um muçulmano), os quais passam a expor-lhe, em colorido e respeitoso debate, as excelências dos seus respectivos credos. Embora o objetivo de sua exposição seja claramente encontrar novas maneiras e novas razões pelas quais os "infiéis", reconheçam seus "erros" e "falsas opiniões" e sejam encaminhados à "glória que não tem fim", o respeito mútuo sobressai. Tendo sido ouvidas com interesse e prazer as ricas exposições, os três sábios recusam-se saber que opção fará o gentio, pois não querem que nada interfira no diálogo iniciado.[7]
Assim como está expressamente manifesto na "Suma Contra os Gentios" de Tomás de Aquino, composta no mesmo período que o livro de Lúlio (provavelmente entre 1270-74) a pedido de um missionário entre os muçulmanos, as obras deste período têm forte tom apologético. Elas indicam, contudo, um claro deslocamento no terreno do enfrentamento com o pensamento divergente, com as outras religiões: do recurso às armas passa-se ao confronto inteligente das ideias. Talvez, por justiça, seria importante anotar que o deslocamento é mais metodológico do que epistemológico. O debate sobre a verdade não está sob o arco destas reflexões.
O contexto é determinante para compreendermos o nascimento deste novo discurso. A teologia havia deixado os mosteiros[8] - que caracterizavam, até então, um verdadeiro entrincheiramento do discurso teológico - e passa a fazer parte do discurso científico das universidades. A cortês "urbanidade" do novo discurso teológico está em relação direta com a reurbanização da teologia dentro de uma nova instituição cultural, a universidade.[9]
1.3 - A expansão do globo e a cisão interna: a razão emergente
As descobertas marítimas e a reforma, no entanto, ainda impactarão profundamente a mentalidade e o discurso cristão, antes que a noção de tolerância seja formulada.
Não é sem importância mencionar, neste contexto, o significativo debate que se estabelece, na Europa, a partir das obras de Bartolomeu de Las Casas (1474-1566). Travar-se-á um debate de grande amplitude para o tema da tolerância entre Las Casas e os renomados Juan Gines de Sepúlveda (1490-1573) e Francisco de Vitória (1486-1546). Partindo da noção de que para o ser humano só há uma definição possível, a de que é racional, Las Casas entende que qualquer ser humano pode ser atraído com amor, suavidade, para uma boa doutrina moral, particularmente a da fé cristã. Este, no seu entender, seria o "único modo" de atrair os nativos da América à fé: a persuasão da razão e a suave atração da vontade.[10]
Diante da provocação de Sepúlveda, que defendia a guerra justa contra estes povos que sacrificavam humanos, Las Casas toca o extremo de sua argumentação, afirmando que era preciso conceder-lhes o direito de sacrificar o que lhes aprouvesse ao seu deus, tido por verdadeiro, até que fosse possível demonstrar-lhes, por argumentos mais convincentes, a excelência da fé cristã e porque é mais digna de que se creia nela. Isso, argumenta Las Casas, exige muito tempo. Para o filósofo argentino, Enrique Dussel, Las Casas é o criador de uma "teoria racional universal da tolerância".[11]
Sem querer subtrair qualquer mérito a Las Casas, o fato é que só no marco do Iluminismo pode-se falar, de fato, de uma ideia precisa do que vem a ser tolerância, visto que é a partir daí que o termo adquire uma conceptualidade precisa no tocante aos direitos do indivíduo (uma filosofia do sujeito) e aos deveres do Estado (uma teoria do Estado). O terreno baldio da ideia de tolerância ganhará, então, o muro dos conceitos.
1.3.1 - O véu esgarçado: cisão e diversificação do cristianismo europeu
Antes, porém, do papel decisivo dos iluministas, é preciso destacar que a emergência do pensamento da reforma indica que, ao mesmo tempo em que o mundo conhecido se expande, surgem cisões internas.[12] Os reformadores, entre eles Lutero, ao postular o princípio da liberdade individual como base da interpretação da escritura, introduz um elemento significativo em favor da compreensão da verdade. No entanto, a liberdade fundadora do processo hermenêutico funda-se na ação do Espírito.
Diante da intolerância que representava o controle institucional da Igreja sobre o processo interpretativo, Lutero sustenta a livre interpretação. No auge dos debates com os camponeses revoltosos, que reivindicavam ser a sua causa procedente dos mesmos princípios que alimentavam a reforma (a liberdade de interpretação da Escritura), ironizou a posição hermenêutica de Thomas Müntzer, que se dizia inspirado diretamente pelo Espírito Santo em sua leitura da Escritura. Lutero, partindo do fato de ser a pomba o símbolo bíblico para o Espírito Santo, disse que o problema de Müntzer era ter engolido a pomba do Espírito com penas e tudo. A verdade como posse é a máxima da intolerância. [13]
Neste debate, ao contestar o direito de uma instituição - a Igreja - regular o processo interpretativo da Escritura, Lutero não poderia admitir que a autoridade interpretativa coincidisse com uma pessoa, um líder, por mais "inspirado" que fosse. Lutero promove, então, um deslocamento da autoridade da instituição e dos poderes constituídos para a própria Escritura. O "sola scriptura" da reforma é, portanto, um "princípio negativo", posto que indica que nada, além da Escritura, regula o processo interpretativo. Só isso, porém, não garante a lisura do processo.
A proposta de Lutero consiste em contestar a identificação da Escritura com a Palavra, reafirmando, ao mesmo tempo, a inseparabilidade de ambas. A literalidade "escritural" não leva diretamente à Palavra, visto que não há identidade imediata. A Palavra, porém, não alcança o ser humano senão por meio da Escritura. Portanto, a não-identidade liberta para o enfrentamento do "sensus literalis" da Escritura, que permite, pela abordagem histórica da Escritura, acessar o núcleo da mensagem, diante do qual a Escritura torna-se Palavra pela ação do Espírito Santo. A ação do Espírito funda a liberdade que orienta o livre exame da Escritura e funda a autoridade da Palavra. A Escritura é autoridade reguladora do processo hermenêutico enquanto, ao negar toda outra possibilidade de regulação, indicar para a Palavra.[14]
Esta compreensão representa uma novidade por deslocar a posição da autoridade num sentido muito amplo. Tanto o poder civil como o poder eclesiástico constituídos não têm a autoridade para legislar quanto à consciência do crente diante de Deus. Esta consciência, porque fundada na experiência da Palavra mediante a ação do Espírito, só pode ser refutada pelo mesmo recurso à Palavra, como disse Lutero em 1521 ao ser instado a retratar-se na Assembléia de Worms.[15] Estava posto, então, o princípio de clivagem do mundo cristão ocidental.
1.3.2 - Guerras religiosas fratricidas: parteiras da tolerância
O contexto imediato do esforço por definir a tolerância foi o das guerras de religião que se sucedem, na Europa, após a deflagração do movimento da reforma. Os diversos editos de paz (Augsburgo, 1555; Nantes, 1598; Westphalia, 1648) dão conta de quão complexa se tornou a questão da cisão interna do cristianismo.
Destaque-se, em especial, os enfretamentos entre católicos e huguenotes (protestantes franceses) na França, que atravessaram os séculos XVI e XVII. Os primeiros protestantes aparecem na França em 1520. Até que se firmasse o Édito de Saint-Germain (1570), dando direito de culto aos protestantes em duas localidades nos subúrbios de Paris e controle militar de 04 cidades, assistiu-se a vários enfretamentos (1562-3, 1567-8, 1568-70).
Entretanto, a frágil trégua do Édito de Sant-Germain durou apenas dois anos. Em 1572, a tentativa mal-sucedida de eliminar um dos maiores líderes protestante, Almirante Coligny, desencadeou, na noite do dia 24 de agosto do mesmo ano, um massacre de protestantes, que passou à história como "Noite de São Bartolomeu". Novamente os enfretamentos militares voltaram (1573, 1574-6, 1577, 1580).
Finalmente, chegou-se ao Édito de Nantes (1598), que definia a liberdade religiosa, política e militar para protestantes. Em 1610, Richelieu volta a perseguir os protestantes e retira seus direitos políticos e militares, restando a liberdade religiosa. Em 1685, Luis XIV aboliu também a liberdade religiosa, ocasionando uma massiva fuga de protestantes e, obviamente, uma evasão de capitais.
II - Distensão do espaço público na modernidade nascente
2.1 - A gestação da idéia de tolerância
A noção de tolerância[16] foi, assim, gestada neste contexto dos enfrentamentos entre grupos cristãos na Europa sob o impacto do cisma religioso. Aqui interessa de imediato menos o pano de fundo histórico do que uma breve apresentação da história da ideia. Neste sentido, um dos textos mais importantes entre as diversas formulações ensaiadas pelos pensadores iluministas neste período, a obra de John Locke (1632-1704), "Carta sobre a tolerância"[17], deve, pelo seu caráter representativo, ser rapidamente resenhado aqui.
Locke parte de dois pressupostos. Primeiro, para ele, a tolerância era o "principal sinal característico da verdadeira igreja"[18] e, além disto, "está de acordo com o Evangelho e com a razão pura da humanidade".[19] Segundo, não foi a diversidade de opiniões, de per si inevitável, que deu origem às disputas e guerras que se abateram sobre o mundo cristão por conta da religião, mas a recusa à tolerância para com aqueles de opinião divergente.[20]
Assim, como primeiro passo para resguardar o princípio da tolerância, Locke advoga, de forma cabal, uma compreensão de Estado em que há uma separação de poderes, especificamente entre o legislativo e o executivo. O poder supremo é o legislativo, que limita o executivo. Ambos, porém, fundamentam-se no direito natural da/o cidadã/ao. Em caso de violação deste, há legitimidade para resistir ao poder constituído. Ele insiste, em decorrência deste fundamento, que há uma separação radical entre governo civil e religião ou igreja e comunidade civil. Demarcação estrita de ambos os domínios é condição de possibilidade da paz.
Assim, a comunidade civil é sociedade de pessoas que visam à busca, preservação e progresso dos seus "interesses civis" (vida, liberdade, saúde, posse de bens materiais, etc.). Cabe ao governo civil coibir tudo e todo aquele que atente contra estes "interesses". A isto e só a isto se limita o poder e o domínio da autoridade civil. Portanto, nada lhe cabe no tocante à "salvação das almas". O poder da autoridade, por exemplo, consiste numa coerção externa. A verdadeira religião consiste numa "persuasão interna da mente, sem a qual nada pode ser aceitável a Deus".[21]
Como decorrência disto, a Igreja é "sociedade voluntária" à qual se adere por vontade própria e se reúne para prestar culto público a Deus, da forma que julgue adequada e eficaz para a salvação. Essa livre associação pressupõe normas internas, resultado de deliberação comum, as quais esperam o consentimento dos associados. Estas normas não têm qualquer poder coercitivo. A confissão e observação externa devem proceder de uma convicção e aprovação da mente. As armas da Igreja são a "exortação, a admoestação e o conselho". Esgotados estes procedimentos, não cabe outra "punição" que a interrupção do vínculo, sem qualquer forma de dano ou restrição civil.
Quanto aos limites da tolerância da autoridade civil em relação às práticas de uma associação eclesiástica, vale a máxima de que o "bem público" é a regra e a medida do legislador. Portanto, o que quer que seja legal na comunidade civil não pode ser proibido na igreja.[22] Qualquer concessão além ou aquém disso concede demasiado poder à autoridade civil ou reinstala a guerra generalizada de todos contra todos. O único limite reside no atentado às condições de possibilidade da própria tolerância.
Em resumo, nem indivíduos isoladamente, nem a igreja, nem a comunidade civil e nem mesmo a autoridade civil têm qualquer direito de, em nome da religião, violar direitos individuais civis ou atentar contra bens materiais de outra pessoa. O corolário desta compreensão é que "nenhum caminho que contrarie os ditames da consciência levará à mansão dos bem-aventurados"[23] e que todo indivíduo pode desfrutar dos mesmos direitos que são garantido a outros.[24]
Contudo, considerando que para Locke a "supressão de Deus", mesmo que teoricamente, "destrói tudo", fica claro que ele se movimenta dentro de uma concepção que não "tolera" o ateísmo. Locke parece entender que "as promessas, os pactos e os juramentos", que forjam os vínculos fundadores da sociedade civil, repousam necessariamente sobre a afirmação da existência de Deus.[25] A criação de um espaço público livre de todas as possíveis formas de coerção - em especial a religiosa, neste caso - supõe a "restrição", pela delimitação precisa das atribuições, do poder do estado e das associações (igrejas), posto que todos são, em tese, potencialmente intolerantes. Esta restrição, ainda que tenha reduzido significativamente o espaço das religiões - empurrando-as para o "domínio das almas" -, mantém um horizonte de sentido comum que ainda pressupõe a configuração religiosa da sociedade.
Esta formulação inicial, definida por Locke, encontrará uma radicalização em John Stuart Mill no século XIX.[26] Em Stuart Mill o pensamento precedente sobre a tolerância é ampliado ao ponto de constituir uma nova concepção. Pode-se falar de uma secularização profunda do espaço público. Não se trata mais especificamente da liberdade de consciência que se funda na tolerância religiosa, mas de uma liberdade estendida à totalidade das condutas sociais, tomando como referência a liberdade individual de consciência em todas as matérias, e postulando o poder civil como garantidor deste jogo e de suas regras.
Enquanto em Locke a idéia da proteção dos direitos individuais tem a função de fornecer ao funcionamento da sociedade um ambiente livre do poder destrutivo dos conflitos religiosos, (comportamentos intolerantes), em Stuart Mill esta ideia é o princípio gerador de uma forma de sociedade, em que o livre desenvolvimento destes direitos promove o avanço progressivo das forças individuais (imaginação, criatividade, empreendimento etc.) em direção ao enriquecimento do humano e rumo a formas mais elevadas de vida social. A tolerância torna-se uma estratégia dentro da concepção de progresso histórico. A tolerância supõe o desenvolvimento das potencialidades imanentes dos indivíduos. A ideia de tolerância e o horizonte escatológico da concepção cristã de história são, na compreensão de Stuart Mill, definitivamente secularizados.
Percebe-se com clareza que estes são os fundamentos do Estado e da democracia liberal burguesa. Desta forma, a tolerância religiosa, neste progressivo processo de secularização, vai se vinculando umbilicalmente ao funcionamento das democracias liberais. Seu arcabouço imaginário inicial, a disputa religiosa que acomodava uma cosmovisão cismática de corte protestante para evitar a ruptura da ordem, é generalizada para toda forma de liberdade de expressão, de manifestação, de associação etc. Este é, sem dúvida, o apogeu teórico-conceitual da ideia de tolerância no pensamento europeu.[27]
2.2 - Tolerância e a compreensão liberal de democracia
Considerando o desenvolvimento da ideia do ponto anterior, pode-se avançar para a hipótese de que a tolerância é a própria condição de possibilidade do mundo ocidental moderno (lança as bases de uma sociedade com os requisitos mínimos para o funcionamento da democracia liberal e do capitalismo).
Admitindo que, em primeira instância, a impostação teórica da tolerância é a disputa religiosa que procura acomodar a cosmovisão cismática do protestantismo, é de se perguntar se não deveremos levantar também a hipótese de que o movimento da reforma, ao desencadear uma atitude de extrema liberdade em relação à produção e circulação dos bens simbólicos religiosos, ensejou igual liberdade em relação à circulação dos bens simbólicos de produção e de consumo.
Invertendo a hipótese, a questão é se a gigantesca mudança de modo de produção econômico (mercantilismo, capitalismo) não supunha igual alteração do "imaginário simbólico", das mentalidades, e, obviamente, das formas de seu intercâmbio. A meu ver, ambas as hipóteses podem ser intuídas da leitura histórica empreendida até aqui e que contariam, em certa medida, com sinalizações positivas na obra de Markovits e de Habermas.[28]
Desta forma, as construções políticas, teóricas e práticas, de acomodação do protestantismo cismático redesenharam a geopolítica europeia através da criação de novas fronteiras, e da fixação da tolerância como nova "moeda" para as trocas simbólicas, como contraparte das reais e necessárias trocas materiais e econômicas. A nova ordem admitia a diferença (postulando uma igualdade anterior e fundamental), circunscrevia os diversos âmbitos (estabelecendo fronteiras) e pautava as relações (criando uma linguagem comum a partir do código simbólico da tolerância).
Em última análise, a nova ordem estabelecia os parâmetros da nascente sociedade, ocultando, sob o manto de uma igualdade anterior e fundamental, as reais condicionantes históricas tanto da tolerância como dos nascentes direitos dos indivíduo (direitos civis). Sob o manto de certo "jusnaturalismo" e sob o véu da racionalidade, a modernidade incipiente supunha, como base, um essencialismo que ignorava a constituição histórica da diferença, da desigualdade, exportando-as para o âmbito privado e criando, através da gramática da tolerância, uma forma de mediação do conflito para que o mundo se tornasse seguro e estável para os intercâmbios econômicos.[29]
Para concluir este ponto, pode-se dizer que para os "dispositivos da tolerância" os "mecanismos de funcionamento" são mais determinantes que os "processos normativos". Em outras palavras, a tolerância funciona menos por constituir uma epistemologia e uma forma consequente de interdição moral do que por ser uma engrenagem indispensável da nascente democracia liberal e da economia capitalista. Ela constitui, pois, a gramática de todos os intercâmbios. A circulação da mais-valia econômica na forma de mercadorias não pode sofrer qualquer disjunção da circulação da "mais-valia" simbólica, sob pena da restrição desta determinar a interrupção daquela. Não obstante todos os conflitos de superfície, a economia capitalista necessita da tolerância para funcionar.
2.3 - A tolerância liberal e o indiferentismo moral
A forma atual da tolerância liberal parece indicar que corremos o risco de caminhar para um absolutismo da tolerância, em que o "indiferentismo moral" ameaça tornar-se a nota dominante. A absolutização da tolerância é a dissolução da tolerância como tal.[30] Propor a tolerância como norma absoluta introduz a possibilidade de negação da tolerância como tal, pois os absolutismos tendem à intolerância. O efeito prático disso é a "indiferença". O indiferentismo moral é uma negação prática da alteridade. Indiferente a tudo e a todos, o indivíduo não reconhece a outra pessoa, a outra ideia, a outra cultura, a outra etnia em seu caráter distintivo, oposto a ele.
Como muita acuidade Slavoj Zizek, filósofo esloveno, captou isso. Ele diz que vivemos em uma era de "crenças descafeinadas", isto é, o indivíduo é capaz de acolher uma "crença" (religião, ideia, causa, etc.) desde que ela não configure um modo de vida substancial. É como se não acreditássemos para valer.[31] Zizek define isso como "hedonismo envergonhado", isto é, uma mistura paradoxal de busca do prazer com moderação. O hedonista contemporâneo não consegue viver de forma consequente seu desejo, pois insere no próprio objeto de satisfação do desejo uma interdição.[32] O ascetismo secular do "hedonismo envergonhado" opõe-se a toda forma de desregramento e faz da temperança uma virtude axial.[33]
Transferindo esta reflexão para o tema que nos interessa aqui, as observações provocantes de Zizek são certeiras quando apontam para o fato de que o multiculturalismo, em sua feição tolerante e liberal de respeito à diferença, constrói um "outro" destituído de sua essencial alteridade. Isso está associado a uma outra constante da tolerância liberal: o não "molestamento", isto é, o direito da não invasão da privacidade, isto é, não há nenhum problema com o outro desde que sua presença não seja invasiva, intrusiva. Em síntese, é possível tolerar o outro desde que ele não seja, de fato, outro[34] no sentido substancial de uma alteridade incontornável e, sobretudo, desde que eu possa me manter a uma distância segura - administrável - dele.
Posta no horizonte do multiculturalismo, a noção de tolerância assume a outra face da mesma moeda que, partindo do respeito à diversidade cultural, promove a "unidimensionalização" da sociedade mediante a redução da diferença numa economia que transforma tudo em "commodities".
III - O emblema no labirinto - A tolerância, a teologia e as religiões
3.1 - Democracia, religiões, tolerância e teologia
Não há dúvida de que toda a elaboração teórica do pensamento político e o desenvolvimento de dispositivos legais que a tolerância experimentou no ambiente do pensamento liberal, conforme foi exposto anteriormente, representam ganhos importantes para a democracia.[35] Entretanto, a democracia não é simples "atributo" de uma modernização econômica adequadamente implementada. Não é possível supor simplesmente uma identificação da democracia com o liberalismo.[36] É preciso, então, pensar a tolerância em relação com a democracia sem que isso tenha que significar qualquer forma de compromisso com o liberalismo clássico ou o neoliberalismo.
A invisibilização da teologia no campo das ciências humanas e o progressivo desaparecimento das religiões na história do conceito de tolerância estão a mostrar que, num cenário em que o caráter pervasivo das religiões é como sangue novo para ciências já combalidas pelo cansaço de seus referenciais explicativos da sociedade moderna, seguir ignorando o discurso científico da teologia é deixar de contar com uma força analítica, crítica e propositiva num momento em que as religiões ocupam violentamente a cena pública, com consequências preocupantes. Não há como tratar disso aqui. Cabem, no contexto da reflexão sobre o conceito de tolerância, algumas breves indicações de como a teologia poderia contribuir
3.2 - O sentido de tolerar
Nem sempre a etimologia acrescenta muito à compreensão de um conceito, posto que, remetendo à sua suposta "origem", tende a minimizar a história do conceito. Correndo este risco, o esforço etimológico ajuda aqui a ampliar o horizonte do conceito. A raiz indo-européia "tol" é a matriz das seguintes formas verbais latinas[37]: a - "Tollo". Este verbo acumula, em ordem de importância, os seguintes campos semânticos: levantar, erguer; criar, educar; tirar, tomar, destruir, pôr termo, suprimir. Deste verbo, segundo o Houaiss[38], origina-se o verbo "tolher" em português. b - "Tolero". O seu campo semântico é amplo: suportar (raramente no sentido físico, por exemplo, peso), sofrer, aguentar; manter, sustentar; aliviar, mitigar; suprir.
O susbtantivo "tolerantia", derivado da segunda forma, tem o lacônico significado de "constância em suportar". Num esforço filológico, combinando algo das duas raízes verbais, poderíamos dizer que o substantivo sugere a ideia de que "suportar" traz o sentido de sustentar ou manter uma situação mesmo sob sofrimento. Trata-se, então, de um esforço para manter, elevar, erguer, sustentar algo acima da nossa capacidade natural e que pode conduzir a uma superação, aliviando e mitigando o sofrimento inicial; situação que, uma vez interrompida em sua dinâmica, pode se transformar em obstáculo, embaraço, impedimento e consequente destruição.
Tolerância, então, se atitude, está sempre no limite entre a superação e a tragédia. Reside nesta compreensão uma evidente ambiguidade do substantivo. Acrescentando a esta reflexão as observações de Michael Walzer[39], chegamos à compreensão de que a tolerância encerra um estado de irresolução em que os dados ainda estão rolando. Esta irresolução manifesta-se na dinâmica de constituição da diferença entre fricções que se dão entre indivíduo e grupo, cidadão e membro e entre estes e o estrangeiro cultural. Neste sentido, a tolerância tanto pode ser superada através de formas mais fecundas de interação como através de conflitos improdutivos.
3.3 - Tolerância e teologia
Retornando aqui ao sentido primordial de tolerância como atitude que indica uma constância, uma renúncia deliberada como forma de suportar uma dor, aguentar um sofrimento, podemos acolher a instigante contribuição de Dorothee Sölle, teóloga alemã. Em seu livro "Fantasia e Obediência", ela afirma que toda forma de renúncia - a tolerância mal entendida como uma forma de renúncia -, como uma "virtude habitualizada" é destrutiva e mortal. O "masoquismo psíquico" daquele que se sacrifica retribui com "sadismo", pois o inconsciente se vinga do que lhe é feito.[40] O desapego do eu só é possível quando há o retorno a si do indivíduo.
Sölle admite que esta capacidade de operar a suspensão natural do desejo (de ódio, de exclusão, etc) é intrínseca à humanidade. Entretanto, ela será tanto mais real, tanto mais eficaz quanto mais forte for a identidade real do ser humano consigo mesmo. Tal sacrifício, tal paciência, afirma ela caminhando para um registro teológico, não se entende como "produção". A renúncia, neste caso, é experimentada como dádiva.[41] Só assim ela pode se tornar produtiva no nível das relações eu-outro, nós-eles e nas relações do universo micro-social, a saber, organizações, instituições. Somente a partir deste fundamento podemos manter o sentido primário da tolerância, ainda que a este nível elementar acrescente-se todo o aparato jurídico.
Pelas razões já enunciadas, não se deve abandonar nem a ideia nem a prática da tolerância. Pode-se ainda adicionar novas razões. Em primeiro lugar, a tolerância, no primeiro projeto iluminista, conserva algo desta aqui apresentada suspensão tensa do juízo que, embora paire sobre a superação e a tragédia, conserva a possibilidade de reconhecer a alteridade. Em outras palavras, há uma esperança latente nesta suspensão tensa do juízo suposta na tolerância. Em termos teológicos, poder-se-ia dizer que ela viceja num horizonte escatológico.
Em segundo lugar, porque, por uma razão teológica, precisamos conservar a tolerância como um emblema. Tolerância é um emblema do que ocultamos com sua expressão (cisão, divisão, diferença, exclusão), mas fundamentalmente ela é emblema de nossa incapacidade de encontrar, não só expressões mais felizes, mas, sobretudo, formas mais concretas de superação do que é, então, sua expressão subjacente. Tolerância deve permanecer como emblema de nossa inadequação, do nosso pecado em todos os níveis. Tolerância é um emblema do limite do amor, da impossibilidade do amor absoluto. Tolerância é um emblema do amor que, para ser eficaz, é sempre precário e sujeito à violência. A tolerância é a existência num labirinto. No labirinto, ela é um sinal luminoso a que somos animados a ultrapassar continuamente em atitudes que se distanciem progressivamente da tolerância, rumo a forma mais reais de solidariedade, de compaixão ou de cuidado, isto é, modos mais apropriados para dar expressão real ao amor. A tolerância é uma forma de viver no labirinto.
* - As idéias apresentadas neste texto fazem parte de um projeto de pesquisa mais amplo, A Tolerância. A busca de uma fundamentação teológica para uma hermenêutica do diálogo e para uma ética da convivência, que já contou com apoio da FAPERGS e conta atualmente com bolsa de apoio concedida pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade EST.
[1] - BORGES, J. G. El Aleph. In: ID. Jorge Luis Borges, Prosa Completa. Vl. 2. Barcelona: Bruguera. 1980, p. 30-7.
[2] - Para uma descrição pormenorizada destas relações de assimilação, veja DREHER, Martin. A igreja no Império Romano, Vl. 1. São Leopoldo: Sinodal, 1993. p. 52-62.
[3] - BETTENSON, H. P. Documentos da Igreja cristã. São Paulo: ASTE. 1983, p. 42-3.
[4] - Há dúvidas quanto a existência efetiva de tal Edito de Milão. Há apenas um rescrito de Licínio, indicando os novos procedimentos quanto aos cristãos. WALKER, Williston. História da Igreja. Vl. 1. São Paulo: ASTE, 1967. p. 151. Também é conhecido o Edito de Tessalônica, de 380, assinado por Teodósio e Graciano, que torna o cristianismo religião oficial.
[5] - Uso indevidamente o termo apenas para dar coerência conceitual à exposição. O termo, com o sentido corrente de tolerância religiosa, é tardio, como veremos aqui.
[6] - ABELARDO, Pedro. Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum. Texto disponível em http://www.abaelard.de/abaelard/Main.htm. Acessado em novembro de 2006.
[7] - LÚLIO, Raimundo. O livro do gentio e dos três sábios. Petrópolis: Vozes, 2001.
[8] - FRANCO Jr., Hilário. A idade Medida. Nascimento do Ocidente. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 107-24.
[9] - Idem, p. 125-48, especialmente, páginas 140ss.
[10] - O exposto acima baseia-se em Eduardo HOORNAERT, História do cristianismo na América Latina e no Caribe. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 124-31, 172-5, 203-13; Rugiero ROMANO, Mecanismos da conquista colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973. p. 84-6.
[11] - Enrique DUSSEL, Descontrucción del concepto de "tolerancia". Disponível em http://www.afyl.org/tolerancia-dussel.pdf. Acessado em 27.07.05.
[12] - Evidentemente, não se trata da primeira cisão no pensamento cristão. A primeira grande cisão, que se deu entre a teologia Oriental e a Ocidental, data de 1054.
[13] - Evidentemente, Lutero - nem o movimento reformatório em geral - não esteve a salvo da intolerância. Não obstante toda a ironia de suas falas, suas posições serviram de salvo conduto moral para o massacre dos camponeses, massacre dos anabatistas, perseguição aos judeus e aos turcos. Veja, por exemplo, o livro de FISCHER, Joachim . Reforma. Renovação da Igreja pelo evangelho. São Leopoldo: Sinodal, 2006. p. 46-52. Lindberg afirma que as restrições de Lutero aos judeus tinham razões teológicas e não raciais. LINDBERG, Carter. As reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001. p. 433-437. Há, contudo, textos que indicam simpatia de Lutero pelos judeus e textos que indicam antipatia. ALTMANN, Walter. Lutero e libertação. São Leopoldo/São Paulo: Sinodal/Ática, 1994. p. 259-70.
[14] - BRANDT, Hermann. O risco do Espírito: um estudo pneumatológico. São Leopoldo: Sinodal, 1977. p. 10-14. BAYER, Oswald. A teologia de Martim Lutero. São Leopoldo: Sinodal, 2007. p. 49-63.
[15] - "A não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes (pois não acredito nem no papa nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos) - a minha convicção vem das Escrituras a que me reporto, e minha consciência está presa à palavra de Deus - nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência." LUTERO, M. O discurso de Lutero na Assembléia de Worms. In: ID. LUTERO, M. Pelo Evangelho de Cristo. Obras selecionadas de momentos decisivos da reforma. São Leopoldo/Porto Alegre: Sinodal/ Concórdia, 1984. p. 148-9.
[16] - Segundo Sério Paulo Rouanet, a tolerância é "uma das mais úteis conquistas da espécie" humana. ROUANET, Sérgio Paulo. O Eros da diferença. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 de fev. 2003. Cad. Mais, p. 12.
[17] - O texto foi escrito na Holanda entre 1685-6 e publicado em 1689 - "Epistola de tolerantia" em latim. Saiu anonimamente em inglês no mesmo ano. Pierre Bayle, filósofo francês de tradição calvinista, publicou no mesmo período um texto igualmente importante sobre a tolerância. Não foi possível contempla-lo aqui. BAYLE, Pierre. Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: contrain-les d'entrer (pt. I-II, 1686; pt. III, 1687). Amsterdam: A. Wolfgang.
[18] - John LOCKE, Carta sobre a tolerância. In: ID. Segundo tratado sobre o governo civil - e outros escritos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 239.
[19] - Id., p. 242.
[20] - Id., p. 284.
[21] - Id., p. 244.
[22] - Id., p. 262, 266.
[23] - Id., p. 260.
[24] - Id., p. 282.
[25] - Id., p. 278
[26] - Na exposição abaixo são contempladas as seguintes obras: MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. 2. ed. Petrópolis: Vozes. 1991; CONYERS, A. J. The Long Truce. How toleration made de World safe for Power and Profit. Dallas: Spence Publishing Company. 2001, p.158-66; CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. Tolerância e seus limites. Um olhar latino-americano sobre diversidade e desigualdade. São Paulo: UNESP, 2003. p. 48-58.
[27] - Isto foi claramente percebido e anotado por Voltaire. Veja análise em SCHAPER, Valério G. Emblemas da Intolerância: Jean Calas, Jean Charles e a tolerância segundo Voltaire. Disponível em http://www3.est.edu.br/nepp/revista/012/index.htm. Acessado em 30.05.08; CONYERS, A. J. 2001, p. 147-168.
[28] MARKOVITS, Francine. Entre crer e saber: polêmica em torna da idéia de tolerância nos séculos XVII e XVIII; Philosophica. Revista de Filosofia da História e Modernidade, São Cristóvão, n. 3, p. 31-54, mar. 2002; HABERMAS, Jürgen. Teoria da adaptação. Folha de São Paulo, São Paulo, 05 de Jan. de 2003. Cad. Mais, p. 10-14.
[29] - CONYERS, A. J. 2001, passim.
[30] NEVES, Maria do Céu Patrão. Tolerância: entre absolutismo e o indiferentismo morais. Brotéria. Cristianismo e Cultura, Lisboa, v. 155, n. 1, p. 31-9, jul. 2002.
[31] - "A crença atual não ofende, porque politicamente correta, nem supõe um comprometimento total. Daí o espanto do Ocidente com os fundamentalistas: eles ousam levar a sério suas crenças." ZIZEK, Slavoj. A paixão na era da crença descafeinada. Folha de São Paulo, Mais!, 14 de março de 2004, p. 13.
[32] - O "modus operandi" do hedonismo envergonhado é subtrair do objeto da paixão, do prazer, a sua substância nociva, seja a cafeína ou a resistência do islamismo a toda forma de modernização. ZIZEK, S. 2004, ibid.
[33] - "Abundam hoje os produtos privados de seu princípio ativo supostamente nocivo: café sem cafeína, chocolate laxativo, leite desnatado, cerveja sem álcool, etc." ZIZEK, S. 2004, Id., p. 14.
[34] - É fundamental que se considere criticamente aqui os moldes que orientam a construção social das alteridades: o índio vive em harmonia com natureza, o negro tem uma musicalidade rítmica latente, os japoneses são "zen" e comem peixe cru, os americanos são alienados e arrogantes, etc.
[35] - Talvez a leitura de Carl Scmitt tenha sido mais uma vez confirmada: conceitos religiosos secularizados fornecem a base do funcionamento jurídica da filosofia política ocidental. SCHMITT, Carl. Teologia Política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
[36] - TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade. O sujeito democrático. Bauru: EDUSC,1998. p. 22.
[37] - Vali-me aqui de Francisco TORINHA, Dicionário latino Português. 2. ed., 1982.
[38] - Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Edição Especial, 2002.
[39] - WALZER, Michael. Da tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 116-7, 120.
[40] - "Sacrifícios têm sentido se estiverem numa consonância do indivíduo consigo mesmo". Dorothee SÖLLE, Fantasia e obediência. Reflexões para uma ética cristã do futuro. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 55.
[41] - Dorothee SÖLLE, Fantasia e obediência. Reflexões para uma ética cristã do futuro, p. 53-8. Para uma ampliação da noção de dádiva em registro filosófico e teológico, veja SCHAPER, Valério Guilherme. A vida repousa sobre a dádiva. Uma abordagem teológica da mercantilização das relações. In: TELES, Antonio Carlos et al. (Orgs.). Ecumenismo e Graça. Quando/onde nada é de graça. São Leopoldo: CECA. 2008, p. 22-30.