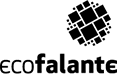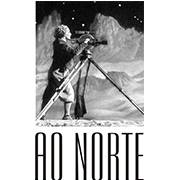Resumo
Neste texto o binômio intolerância/ tolerância é abordado pela via da psicanálise. A autora nomeia as forças psíquicas que habitam a todos nós e a partir do entendimento da natureza e da dinâmica dessas forças – denominadas pulsões (Trieb) – são apresentadas as raízes da intolerância. Também é apresentada e discutida a tensão existente entre a natureza humana pulsional (que busca satisfação imediata) e o processo civilizatório (regulador e mediador dessa busca).
Intolerance and Human Relations
Abstract
In this work the couple intolerance/ tolerance is approached with the psychoanalytical instrument. The author gives names to the psychical forces that inhabit us all, trying to comprehend the roots of intolerance as derived from the nature and dynamics of these forces – denominated drives (Trieb). The author discusses the tension existing between the human nature (in search of an immediate fulfillment) and the civilization process (which regulates and mediates this search).
Intolerância e relações humanas
Há seis décadas a Declaração Universal dos Direitos Humanos ecoa no Ocidente e é referência para nossa organização mental. Tendemos a considerar a legitimidade de nossas ações e das ações alheias, seja no âmbito pessoal seja no âmbito das instituições, a partir desses direitos e tendemos a nos indignar a cada vez que não são reconhecidos e são desrespeitados. Infelizmente, é fato que isso ocorre com muita freqüência.
Toda problemática do binômio intolerância/tolerância ressoa nesses mesmos moldes. A tolerância é um valor por princípio defendido pelos regimes democráticos, ainda que nem sempre seja devidamente levada em conta nas relações humanas; e a cada vez que o princípio da tolerância é ferido, vozes se levantam para relembrar seu valor. Note-se que a tolerância – como a admissão do direito à diferença – é uma conquista do processo civilizatório, é característica do Ocidente e é fruto do Iluminismo. A Epístola sobre a Tolerância, de 1689, escrita por John Locke, enunciou a proposição da tolerância como ato político. Ela pôde ser definida e exercida dessa maneira em decorrência dos limites que, culminando com a Revolução Gloriosa, no final do século 17, o Parlamento do Reino Unido impôs aos direitos absolutos de sua Majestade. Naquele momento histórico, a tolerância, ou seja, o direito à diferença, implicou no direito à convivência de todas as religiões. Ora, isso só foi possível pela separação conquistada entre Estado e Igreja. A introdução de um regime laico garantiu o sistema de liberdades inglesas – que se encontrava ainda em seus começos – uma vez que nem as tantas posições políticas nem as diferentes doutrinas religiosas poderiam, dali em diante, se impor de maneira totalitária às demais existentes e a religião do rei não tinha mais de ser assumida pelo povo. Por sua vez, as Cartas Inglesas, escritas por Voltaire e publicadas em 1734, relatam aos franceses a admiração do filósofo pelo sistema britânico que não perseguia, nem eliminava ninguém por pensar independentemente. No século 19, Stuart Mill reforçará, no âmbito geral de sua obra, a conotação positiva da tolerância. Ele atribuirá à tolerância um lugar de máxima importância para a sustentação do pluralismo de idéias essencial ao desenvolvimento das sociedades: se os indivíduos são diversos entre si e se são soberanos sobre si mesmos, então a sociedade deve ser tolerante para bem funcionar.
Essa maneira de colocar a questão ressalta o pluralismo de idéias. E o pluralismo de idéias implica termos de conviver com idéias com as quais discordamos, com modos de vida que não nos agradam: a escolha política, a sexualidade, a religião, os hábitos do vizinho, por exemplo... Pluralismo de idéias obriga ao compromisso de que nos momentos de conflito democrático, ainda assim, será mister respeitar o pluralismo... Colocarmo-nos sob a égide da tolerância nos compromete a não excluir o outro pelo que pensa ou por ser minoria; também quer dizer suportar as críticas e as discordâncias dos outros frente a nós. E, inclusive, o pluralismo traz em seu bojo a possibilidade lícita de mudarmos de idéias e posições por considerações advindas de nosso foro íntimo – de maneira que implica a tolerância voltada para si mesmo.
Surge, então, uma questão clara: como não confundir a tolerância com a indiferença e nem correr o risco de ser tolerante com a intolerância? Se não concordamos com uma idéia ou com uma prática, podemos e talvez até tenhamos o dever de nos opormos a elas, mantendo a única ressalva: respeitar o outro que porta essas idéias ou age a conduta que condenamos. Ser tolerante não implica jamais em concordância passiva (o que eu chamo de relativismo absoluto) ou em omissão. Implica em experimentar contrariedades com respeito ao ser humano que as veicula, sem ofensas, sem submetimentos. O respeito à pessoa é soberano, mas respeitar idéias e opiniões não-respeitáveis não ajuda a humanidade a enfrentar suas dificuldades.[1]
Seguindo esse raciocínio um pouco mais adiante, surge outro aspecto da questão: quando um Estado signatário da Declaração Universal, como o Estado brasileiro, cuja Constituição referenda esses Direitos, interfere negativamente no sentido de não garantir o que ele mesmo preconiza, surge na sociedade civil uma tensão geradora de exclusão. Por sua vez, a constatação de estar excluído, de fato, do gozo de um Direito legítimo que deveria estar contemplado, promove, nos cidadãos, um sentimento de não-pertinência e de injustiça. Essa tensão entre a sociedade civil e o Estado traz elementos que repercutem diretamente nas discussões sobre o binômio tolerância/intolerância ao colocar em causa os meios disponíveis à sociedade civil para reivindicar o que lhe é devido.
Nas as situações limite, o uso do sistema jurídico idôneo deve ser reivindicado no combate de práticas e disseminação de idéias que ameacem os direitos democráticos e o princípio da tolerância. Quando a atitude ou a idéia em causa fere os princípios da reciprocidade e da democracia e fere a integridade da vida humana, não se pode ser tolerante (no sentido do direito à diferença). O pluralismo, além do mais, nos garante a separação entre os poderes da Nação com vistas a oferecer independência às instituições reguladoras da vida em grupos e nas coletividades.
Porém, todas essas conquistas que sustentam posturas legítimas, apesar de absolutamente importantes por fundarem a própria idéia de tolerância da maneira como a conhecemos e valorizamos, não foram e não são suficientes para se eliminar a intolerância das relações entre os homens e nem da relação entre os cidadãos e o Estado. A intolerância segue existindo; ela implica o ódio à alteridade e gera destruição. E a destruição é um tema que, na modernidade alcançou especificidades inéditas e atravessou fronteiras assustadoras. A Primeira Grande Guerra não foi suficiente para “acabar com todas as guerras”... Juntas, a Primeira e a Segunda guerras mundiais ultrapassaram, uma após a outra, e em proporções descomunais, aquilo que se tinha imaginado como o pior. Episódios extremos – o genocídio dos armênios (1ª. GG), o holocausto, os Gulags, Hiroshima e Nagasaki (2ª. GG) e a seqüência da Guerra Fria – exigiram que os saberes, as artes e as ciências se debruçassem sobre o tema da intolerância e do exercício do mal. Numa série que parece não ter fim ao redor do planeta, outras tantas guerras, invasões, disputas e submetimentos, transcorridos na segunda metade do século 20 e nestes inícios do século 21, fazem jorrar desalento e pedem elaborações, pedem tomadas de posições coletivas. São tristes e sangrentos episódios os quais demandam algum entendimento sobre o funcionamento do humano.
O arrazoado presente nos tratados de Filosofia Política e Sociologia, nos estudos da História e do Direito, nas análises da Economia, nas investigações da Antropologia e da Psicologia são fundamentais. Ainda assim, há algo que foge da racionalidade consciente e com o que a Psicanálise se esforça, desde Freud, já nos idos dos anos 20 e até o presente, em contribuir.
Há um episódio que marca a urgência e a importância da contribuição psicanalítica à problemática da intolerância e eu quero relembrá-lo aqui. Vocês sabem que após a Primeira Grande Guerra foi criada, em Genebra, a Liga das Nações (1919-1935) numa tentativa ambígua (porque pouco eficiente) de colocar limites aos poderes de cada Estado diante das questões internacionais. Também foi criado, em Paris, norteado por esse propósito, o Instituto Internacional de Cooperação Intelectual (IICI). Esse Instituto aglutinava pensadores e cientistas de diversos países e tinha por objetivo colaborar na instauração de algo que pudesse trazer uma nova concepção humanista para respaldar os trabalhos da Liga das Nações a favor da paz. Nesse contexto, em 1932, Albert Einstein – participante ativo dos trabalhos da Liga, além de eficaz crítico das atitudes pouco efetivas desse órgão – convida, oficialmente, Sigmund Freud a uma troca de correspondência. Einstein pretendia que essas cartas fossem tornadas públicas sob o título Direito e Violência. Freud não concordou e quis o nome Por que a guerra? [2]
O Por que a guerra?[3] (Warum Krieg, publicado em alemão em 1933) constitui-se num material de atualidade. Os dilemas envolvidos no momento de sua escritura – relativos ao poder, à violência, ao Direito, à intolerância – seguem recolocados tanto em termos das práticas terroristas e dos desafios ainda inconclusos diante da necessidade de reformas para a ONU, quanto no que diz respeito à insegurança cotidiana dos cidadãos bem como o desrespeito aos seus direitos e o aviltamento sofrido por aqueles que são vítimas de preconceitos. Todas essas situações implicam diretamente nas práticas de intolerância mais ou menos dissimuladas, mais ou menos explicitadas.
Essa correspondência nos remete às contribuições freudianas sobre a componente destrutiva da psique humana e não limitada à problemática das guerras ou a momentos de exceção. A violência e a intolerância não estão circunscritas a elas nem aos grandes ataques; apresentam-se micropoliticamente todos os dias de nossas vidas onde o humano esteja. Na transgressão e no crime, sim. Mas também, de modos mais ou menos sutis, nas práticas reguladoras ordinárias dos Estados, nas tessituras dos dispositivos institucionais, nas relações profissionais, pessoais e íntimas que cada qual estabelece. E o mais assustador: a inequívoca presença ativa da violência e da intolerância destiladas contra si mesmo. Uma força psíquica originária e inapelável está sempre pronta a irromper dos confins de nós mesmos. Essa força mortífera age no psiquismo individual e na cultura.
Entretanto, essa é uma proposição controvertida: nosso senso comum aceita que para nos defendermos podemos atacar; aceita que o mal vem de fora do sujeito: de preferência afirma que ele vem dos outros e do campo social provocando alguma violência reativa nos homens de boa vontade. E, mais ainda, o senso comum também admite que alguns são maus porque algo lhes acontece e os perverte irremediavelmente, por ação externa ou mesmo em função de fator inexplicável...
Ocorre que Einstein e Freud estiveram sempre longe do senso comum. Ao longo de sua carta, Einstein dirige a Freud três perguntas e um comentário central. Suas duas primeiras perguntas abordam a guerra: 1) como a humanidade poderia evitar a ameaça da guerra e 2) como os mecanismos sociais conseguem levar os homens a sacrificarem suas vidas nas guerras. O próprio físico propõe uma resposta: “É porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição.” E formula, enfim, a última questão perguntando ao psicanalista se seria possível controlar a mente humana de modo a evitar nela as patologias do ódio e da destrutividade.
Freud, de sua parte, sustenta sua resposta na explicação sobre a existência de duas forças, duas pulsões humanas básicas, antagônicas e irredutíveis. São elas: as pulsões de vida ou eróticas – as quais sustentam os esforços de viver e “tendem a preservar e a unir”; e as pulsões de morte ou destrutivas – cujo objetivo, quando em atividade interna e silenciosa, é restabelecer o estado inanimado nos seres vivos conduzindo-os à própria morte e, quando projetadas em alguma proporção para fora de si, tornam-se ruidosas e “tendem a destruir e matar”.
A afirmação freudiana sobre a pulsão de morte acarreta uma idéia perturbadora: o organismo humano se protege do próprio aniquilamento ejetando uma parte da pulsão de morte sobre o mundo externo de maneira a destruir a vida alheia. Esse movimento violento, portanto, protege o organismo por uma dinâmica inserida na ordem da natureza. Com isso, não há chance de se extinguir de uma vez por todas as tendências violentas e intolerantes do ser humano porque se trata de uma condição de sua natureza.
Essa tendência interna e silenciosa à morte que cada qual traz em si torna-se força de destruição barulhenta e perturbadora quando lançada para fora. E mais: mesmo pela via de ações psíquicas específicas e normas sociais proibitivas, reguladoras da vida em comum, reguladoras da destrutividade lançada fora de si sobre o corpo da sociedade, impulsos violentos sempre persistirão voltados contra a civilização. Em certo momento Freud afirma: “O homem não é um ser doce, necessitado de amor, o qual será quando muito capaz de se defender ao ser atacado, mas ao contrário ele conta também entre suas aptidões pulsionais uma grande parte de inclinação à agressividade.”[4]
A constatação de Freud – bem como a perspicaz observação de Einstein – justamente nos faz refletir e perceber em nós mesmos o que nos é tão fácil de denunciar nos outros. Nossa racionalidade nos ajuda a dominar nossa destrutividade sem ser, entretanto, suficiente para promover em nós a renúncia total dessa força presente na humanidade desde tempos imemoriais. As raízes da intolerância são irracionais... É pela sustentação do processo civilizatório que as forças destruidoras, e com elas a intolerância, podem ser pontualmente confrontadas a cada manifestação e mesmo parcialmente transformadas psiquicamente e em termos de atitudes. As forças da natureza humana são forças da sexualidade e da destruição. Os homens são animais que não controlam naturalmente nem o desejo sexual nem o desejo de destruir. A civilização tem de lidar com isso.
Para fazer parte da civilização, para conquistar sua entrada na cultura, cada menino e cada menina, no tempo de sua primeira infância, terá de renunciar à pura satisfação direta de suas pulsões e terá, ainda, nesse trajeto, de reconhecer que o papel do outro em sua vida não pode ser substituído pelo que seu próprio eu pode lhe fornecer. Ora, nenhum ser humano pode existir, como sujeito psíquico constituído, fora do processo civilizatório: Rômulo e Rêmulo e Mogli são fantasias.... Mas o preço que se paga para ser incluído na civilização, para ser humanizado, deixa um rancor que Freud trabalhou em detalhes em seu texto O mal-estar na civilização.[5] Nesse escrito ele prognostica nosso destino: essa força desagregadora que tende a destruir e a matar não será jamais eliminada da natureza humana. Ela só pode ser enfrentada e administrada parcial e ininterruptamente com as medidas da cultura que atingem o psiquismo humano desde sua fundação. Somos condenados a conviver com elas, a administrá-las, a domá-las sem parar: essa a tarefa dos humanos que desejam sustentar a vida. E nem sempre poderemos enfrentá-las como seria urgente fazê-lo seja nos outros seja, principalmente, em nós mesmos.
Se as forças desagregadoras nos são constitutivas, o lugar ocupado pela própria violência deve ser considerado estruturante: sendo a violência algo inerente, a sociedade não tem como, simplesmente, se livrar dela. É necessário encontrar formas de inseri-la. Formas reguladas, formas sublimadas, formas que a contenham dando-lhe alguma chance de expressão. Caso contrário, a violência toma as rédeas da vida coletiva e se espraia sem limites. Seu avanço arrebenta o controle tão arduamente sustentado em um ponto de equilíbrio instável sempre pronto a se romper no obscuro território dos confins do mal que nos habita – a todos. O mal-estar na cultura advém da impossibilidade que temos de renunciar totalmente aos nossos desejos destrutivos e sexuais primários, inerentes à condição humana, apesar de buscar transformá-los pelos andaimes das construções civilizatórias.
Contudo, em nome da Civilização, quanta intolerância para com as civilizações e culturas estrangeiras! Como se, considera Freud, tal qual na antiguidade clássica, estrangeiro e inimigo fossem conceitos amalgamados... E é no texto “Considerações sobre a guerra e a morte” (1915) que escreve:
“Na realidade, não há um extermínio do mal. A investigação (...) rigorosamente psicanalítica mostra que a essência mais profunda do homem consiste em impulsos pulsionais de natureza elementar, iguais em todos e tendentes à satisfação de certas necessidades primárias. (...) Deve conceder-se, desde logo, que todos os impulsos que a sociedade proíbe como mal – tomemos como representação dos mesmos os impulsos egoístas e cruéis – se encontram entre os tais impulsos primitivos.”[6]
A transformação dos impulsos egoístas e cruéis na direção de algo socialmente valorizado é possível. Para tanto são convocadas forças e fatores internos (afluência da corrente erótica sobre os impulsos destrutivos, necessidade humana de amor, ações do recalque) e externos (coerção da educação, condições do ambiente). Ora, mas então, o que ocorre que a transformação não é efetivamente conquistada e nem sequer mantida quando alcançada parcialmente? Exemplo mais prosaico é a permanência em nós de motivações puramente egoístas; já os mais contundentes não nos faltam historicamente e se localizam nas guerras, nas perseguições e extermínios justificados através da religião, da política ou de uma suposta superioridade (crianças, mulheres, judeus, árabes, índios, negros, bósnios, homossexuais, a lista é longa, infelizmente); localizam-se nas ditaduras e, hoje, no pior: no terrorismo. Todos temos, no cotidiano, exemplos da falta de entendimento, de discernimento e penetração que mesmo pessoas inteligentes, bem educadas e de fino trato demonstram diante de situações de preconceito e intolerância mediante as pequenas diferenças. É justamente nesse aspecto cotidiano, das práticas menores e persistentes, que encontramos a força de reposição coletiva desses males.
Em O Mal-Estar... Freud justamente nos dá a chave para o entendimento do que permite aos homens e mulheres alguma satisfação das pulsões de morte uma vez que a renúncia total delas gera-lhes um custo excessivo. A base de tanta intolerância mútua, aparentemente não justificável, ganha algum sentido aí. Ele escreve:
“Sempre se poderá vincular amorosamente entre si um maior número de homens, com a condição de que sobrem outros em quem descarregar os golpes. Em certa ocasião me ocupei do fenômeno de que as comunidades vizinhas e ainda aparentadas, são precisamente as que mais se combatem e desdenham entre si, como por exemplo, espanhóis e portugueses, alemães do Norte e do Sul, ingleses e escoceses, etc. Denominei a esse fenômeno narcisismo das pequenas diferenças (...). Podemos considerá-lo como um meio para satisfazer, cômoda e mais ou menos inofensivamente, as tendências agressivas, facilitando-se assim a coesão entre os membros da comunidade. O povo judeu, disseminado por todo o mundo, se fez credor de tal maneira de importantes méritos quanto ao desenvolvimento da cultura dos povos que o hospedam; mas, por desgraça, nem sequer os massacres dos judeus na Idade Média conseguiram que esta época fosse mais aprazível e segura para seus contemporâneos cristãos. Uma vez que o apóstolo Paulo fez do amor universal pela Humanidade o fundamento da comunidade cristã, surgiu como conseqüência iniludível a mais extrema intolerância do cristianismo frente aos gentios; em troca, os romanos, cuja organização estatal não se baseava no amor, desconheciam a intolerância religiosa, apesar de que entre eles a religião era coisa do Estado e o Estado estava saturado de religião. Tampouco foi por compreensível azar que o sonho da supremacia mundial germânica recorrera como complemento à incitação ao anti-semitismo; por fim, nos parece bastante compreensível o que a tentativa de instalar na Rússia uma nova cultura comunista recorra à perseguição dos burgueses como apoio psicológico. Mas nos perguntamos, preocupados, que farão os sovietes uma vez que hajam exterminado totalmente a seus burgueses.”[7]
Reencontramos nessas palavras a cisão primária entre o bom interno e o mau externo visando a auto-preservação. Se esse “narcisismo das pequenas diferenças” é quase um mal necessário contra o estrago de uma explosão generalizada de destruição, ainda não é tudo com o que podemos contar no enfrentamento da pulsão de morte. A alternativa para o enfrentamento dos impulsos primários está no pacto edípico, reafirmado pelo pacto social[8], de modo que este forneça, a todos e a cada qual, uma razão suficiente para reafirmar a renúncia de sua fruição imediata e construir uma passagem ao campo compartilhado.
Até agora só falei para vocês de impulsos originados na pulsão de morte. Acontece que temos outro tipo de impulsos primitivos que também precisam ser regulados e que estão em profunda conexão psíquica com os impulsos destrutivos: são os impulsos eróticos, derivados das pulsões de vida. Todo agrupamento social tem regras de regulação do sexo e da violência justamente porque, como é bem sabido, na vida humana esses aspectos são presentes intensamente e não dispomos de regulações naturais.
Então vamos ter de abordar agora o complexo mais famoso da psicanálise, porém nem sempre bem compreendido fora de seus meios restritos: o complexo de Édipo. Espero conseguir falar disso com vocês da maneira mais produtiva para nosso propósito aqui que é a questão da intolerância.
O complexo de Édipo, como é sabido, foi nomeado assim por inspiração na tragédia grega de Sófocles chamada Édipo Rei. Nessa tragédia estão colocados os elementos do incesto e do parricídio, ambas as transgressões cometidas por Édipo de modo inconsciente, movidas por forças obscuras do desejo. Bem, Freud institui o nome de “complexo de Édipo” para nos falar precisamente dessas forças tão avassaladoras que portamos e com as quais temos de nos haver logo nos primeiros passos de nossa existência. Complexo de Édipo nada mais é do que o nome de algo que se passa na vida de cada menino e cada menina, na época de sua primeira infância. Esse algo é a composição de impulsos sexuais e agressivos os quais partem do corpo da criança, mobilizados em fantasias, e tendo como objeto os pais (ou seus substitutos, por exemplo no caso de crianças desde sempre institucionalizadas). Sendo assim, o Édipo constitui o momento crucial no qual, uma criança pequena, por volta de 4/5 anos, “(...) tem de aprender a limitar seu impulso e ajustá-lo aos limites de seu corpo imaturo, aos limites de sua consciência nascente, aos limites de seu medo e, finalmente, aos limites de uma Lei tácita que lhe ordena que pare de tomar seus pais por objetos sexuais.”[9].
Por temor à castração, o menino recalca seu amor incestuoso acompanhado de seu impulso parricida; por medo à castração, sim, mas, especialmente, por ser amado e respeitado é que pode superar sua ligação primordial com a mãe tornando-se capaz de internalizar a lei do incesto e identificar-se com os valores paternos. Essa passagem prepara a criança para, em tempo futuro, integrar a sociedade. A proibição do incesto internalizada será, mais tarde, por sua vez, o ponto aglutinador em condições suficientes para uma identificação com os ideais da cultura. A lei do incesto interdita o incesto e autoriza todas as outras escolhas amorosas não-incestuosas. Dessa maneira o desejo ganha inserção no circuito das trocas sociais. A criança não fica condenada à concretude da ligação primitiva à mãe e adquire capacidade de sustentar seu modo singular de desejar. O Édipo deve ser entendido como o limite imprescindível promotor de uma abertura para além das fronteiras maternas. Eros é o regente dessa operação – o que permite afirmar que uma construção erótica está no fundamento do processo civilizatório. O pacto estabelecido, pacto edípico, pode ser traduzido assim: “eu, por vias inconscientes que não domino, renuncio aos meus impulsos sexuais primários e, em contrapartida, posso ser, tal como meu pai, incluído no mundo da cultura.” Mas nem tudo são rosas: já em 1930, Freud nos alertara para uma espécie de rancor à cultura que persistirá para sempre no interior de cada sujeito constrangido, para integrar a civilização, a abdicar, a renunciar, à satisfação plena e direta de suas pulsões sexuais e agressivas.
Se na primeira infância isso tudo teve lugar e se operou mais ou menos bem, então, quando apto às amplas trocas do mundo adulto, esse sujeito terá a oportunidade de reafirmar sua renúncia pulsional ao aceitar o princípio de realidade, articulando-se pela via do trabalho aos preceitos da cultura. Em torno do trabalho se organiza o pacto social que poderia ser enunciado mais ou menos assim: “eu, que por vias inconscientes, assumi a renúncia pulsional colocada na qualidade de condição para ser aceito como membro desta sociedade, renuncio agora, pelas mesmas vias (inconscientes), ao princípio do prazer ao oferecer meu trabalho e minha competência. Em contrapartida, espero que se cumpra, por parte da sociedade, meu direito de receber o que preciso para manter minha integridade física e psíquica.”
A relação entre os dois pactos é muito íntima. Se o pacto edípico não se estabelece ou, em decorrência de conflitos familiares, estabelece-se de modo prejudicado, condutas anti-sociais poderão surgir. De outra perspectiva, se a sociedade não cumpre sua parte conforme o necessário no pacto social, isso terá força para ameaçar ou mesmo romper o pacto edípico instituído no inconsciente do sujeito psíquico. Nessa hora o fundamento da cultura, o pacto edípico, que exigia do sujeito um recalque de seus impulsos pulsionais sexuais e agressivos será lesado. Como conseqüência a volta do recalcado trará à tona impulsos delinqüentes parricidas, homicidas, incestuosos. [Essa tese de correspondência entre o pacto edípico e o pacto social foi lançada por Hélio Pellegrino, um importante psicanalista brasileiro (1924-1988), nos idos de 1966, num Congresso em Santiago/ Chile[10].]
A violência e a intolerância são práticas coexistentes. E para tecer considerações que contribuam para a conquista e a sustentação da tolerância em nossas sociedades, não se deve separar os aspectos individuais dos coletivos sob o risco de criar uma dificuldade intransponível para esse entendimento.
Toda teoria psicanalítica afirmará a necessidade do pacto edípico: de uma parte a presença da coerção interior para impedir os desejos incestuosos e o parricídio. De outra parte, a possibilidade do exercício da sexualidade e da agressividade no contexto de um ideário forjado e contido pelo grupo social que acolhe o sujeito. Isso não deriva apenas dos movimentos psíquicos de cada qual submerso em seus traços e cartografias inconscientes como se se tratasse tão somente de uma construção individual. Cabe à cultura a contrapartida para regular as trocas e sustentar as ofertas. A economia libidinal precisa ser atendida. Apesar do forte alerta de Freud de que mesmo diante dos esforços realizados pelas construções civilizatórias algo sempre permanecerá pulsando silenciosamente – sem nome, sem representação, sem simbolização, pronto a emergir e se espalhar na cultura – ainda assim a função conectiva desta última permanece essencial.
O trabalho cotidiano de criar laços, fazer ligações, estabelecer e sustentar relações e dessas práticas construir valores, projetos com desdobramentos, realizações que contribuem é o único caminho que pode instaurar a tolerância entre os homens. Nas relações estão implicadas as identificações. Quando temos laços de identificação com o outro podemos reconhecê-lo como semelhante a nós e, ao mesmo tempo, separado e diverso de nós. Nessa dinâmica, a civilização tem de oferecer algo que valha a pena pela inclusão – contrariamente à exclusão e à intolerância das diferenças tão freqüente nos nossos dias.
É dentro dessa lógica que na resposta de Freud a Einstein aquele afirma que todo estreitamento de vínculos emocionais entre as pessoas age no sentido contrário à guerra. Mas é preciso ressaltar que a participação de Eros não elimina as pulsões destrutivas; na realidade a pulsão de vida se mistura a elas. Desse amálgama pulsional, dessa fusão entre os dois grandes grupos de pulsões, vive a civilização. Freud sustentou o conceito de pulsão ao longo de sua obra na busca de entender como os acontecimentos que têm lugar nos corpos ganham inscrição psíquica. Como conceito é uma ferramenta que pode nos ajudar no entendimento do que se passa intrapsiquicamente e entre os sujeitos. Por isso gosto de pensar no conceito de pulsão como uma espécie de força: forças de junção e de separação que partem das zonas do corpo e que exigem trabalho psíquico.
Os acontecimentos de nossas vidas brotam da ação conjunta ou contrária das forças de vida e de morte. Uma pulsão se acompanha de uma quantidade da outra e isso modifica seu objetivo ou lhe permite alcançá-lo. Uma situação comum que nos facilita a compreensão a esse respeito encontra-se na paixão amorosa que exige uma fusão de amor e agressividade. Porém, atenção: uma mistura com um a mais de agressividade é capaz de tornar o apaixonado num assassino; e uma diminuição significativa da agressividade o torna tímido ou impotente. Podemos afirmar o mesmo com relação a práticas educativas: as atitudes firmes e decididas a impor limites têm de mesclar proporcionalmente impulsos amorosos e agressivos para evitar que o educador satisfaça seus desejos destrutivos sobre os corpos e mentes dos educandos e para atentar no sentido de que a prática educativa não se torne numa prática permissiva sem alcance de seus objetivos.
Mesmo uma circunstância como a guerra implica a fusão entre as pulsões. Na mesma carta, Freud assinala que os motivos que levam os homens a guerrear são variados. Sempre haverá o “desejo da agressão e destruição” – desejo nada estranho às nossas vidas cotidianas e atestado pela crueldade presente ao longo da história da nossa espécie. Esse desejo é mais facilmente satisfeito na guerra porque está misturado com o idealismo e o heroísmo, cuja natureza é erótica. Inclusive se nos voltarmos rapidamente às atrocidades cometidas nas Cruzadas e na Inquisição, e mesmo na catequese dos índios na América Latina (para irmos ao encontro de exemplos conhecidos) recordaremos que os perpetradores do horror alegavam motivos idealistas para justificar suas práticas invasivas, intolerantes e destrutivas. Em algumas situações de maior violência e crueldade tudo o que permanecia na consciência mais acessível eram as razões ideais; os motivos irracionais destrutivos pareciam contribuir desde sua emanação inconsciente. Não tão distante disso é o discurso oficial das ditaduras ideológicas: todas justificam suas posições duras e mortíferas num idealizado Bem de Estado. Freud nos faz considerar que ambas motivações (idealistas e destrutivas) estão, de fato, também ali combinadas... Ainda assim, combiná-las é a forma mais eficiente de conter e mediar a destruição que se tornaria imediata e bruta se em estado puro.
Numa separação absoluta entre os dois grupos de impulsos pulsionais em que a pulsão de morte se afirma como soberana absoluta – em situação extrema na qual as pulsões de vida foram separadas e distanciadas da regência da situação em curso – os impulsos oriundos da pulsão de morte agem só, totalmente deserotizados. E podem agir internamente, silentes, no sujeito psíquico entregue a um esvaziamento de sentido vital. Trata-se de auto-destruição. A pulsão de morte busca o desligamento, a morte psíquica e mesmo, no limite, a morte orgânica.
Essa retirada erótica absoluta também pode, ruidosa, estar dirigida para um alvo externo, numa atitude hetero-destrutiva radical. Se a pulsão de vida não está presente, não restará nenhuma conexão de valores e interesses, nada mais de comum com o alvo da destruição. E o mal radical se mostrará o mais íntimo da indiferença ao sofrimento. Não se trata aqui de uma situação sádica, na qual alguém sente prazer no sofrimento alheio. Trata-se de nenhum prazer envolvido; trata-se da desumanização do semelhante. A idéia de que o outro, em sua diferença, não é mais outro humano, não vale um traço de identificação, está desumanizado, leva ao extermínio frio. Num exemplo cru, um ex-matador da cidade de Cali, jovem de apenas 16 anos, diz a respeito das vidas que eliminava: Depois de pouco tempo, é como se pisássemos numa barata.[11]
As pulsões isoladamente não favorecem os movimentos da vida. Nem a pulsão de morte – que isolada leva ao desligamento dos vínculos, à ausência de identificações e, no limite, a busca do retorno ao inanimado (a morte) – nem a pulsão de vida – que sozinha impede que as transformações ocorram, num tipo de resistência às quebras e cortes necessários. Para os movimentos acontecerem é preciso que o que está constituído sofra alterações, é preciso que algo da ordem da agressividade esteja presente. Assim, não se trata nem de moralizar as pulsões e dividi-las entre o bem e o mal nem exatamente de afirmar que uma está a serviço da outra. Mas, sim, de que a mistura em certas proporções entre elas está a serviço da vida, dos movimentos implicados nas dinâmicas vitais.
Com os conceitos psicanalíticos e com pensamentos cultivados sob a influência da teoria psicanalítica, podemos compreender que não iremos “purificar” a humanidade seja com qual remédio milagroso for. O fato irredutível é que as forças da natureza humana são drásticas e incluem sempre a destruição de si e do outro. Como lidar com isso, uma vez que o homem não vive isolado? Se por um lado tendemos a destruir, por outro tendemos a juntar e construir, a agregar para sobreviver e criar sentido na vida. É aí que a psicanálise tem uma maneira de entender o que está na base desse processo gregário, ou processo civilizatório.
Para encerrar esta fala apenas sublinho o que foi desenvolvido ao longo da minha exposição. As situações de intolerância são ataques carregados de exigências narcísicas e voltados aos mais diversificados alvos. São ataques que desconsideram o direito da alteridade à diversidade. Em todas as situações é preciso, por um lado, considerar e avaliar a presença das pulsões destrutivas e, por outro lado, buscar criar e estimular enlaces libidinais. A tensão entre a natureza humana pulsional e o processo civilizatório está em contínuo trabalho de elaboração. Por isso, as possibilidades que cada sociedade elege, cada grupo dispõe e cada pessoa desfruta para tanto são variadas. Mas, parafraseando o final da carta de Freud a Einstein, pode-se afirmar: tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a intolerância.[12]
Referências Bibliográficas
Dimenstein, G., O mistéiro das bolas de gude – histórias de humanos quase invisíveis.
Campinas/SP: papirus, 2006.
Freud, S., BN (Biblioteca Nueva). Sigmund Freud – Obras Completas; trad. Luis
Lopes-Ballesteros y Torres. Madri, 1973.
(1914) “Introduccion al narcisismo”, BN Vol. II.
(1915) “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte”, BN Vol. II.
(1920) “Mas allá del principio del placer”, BN Vol. III.
(1921) “Psicologia de las masas y analisis del yo”, BN Vol. III.
(1930) “El Malestar em la cultura”, BN Vol. III.
Green, A., Narcisismo de vida, narcisismo de morte; trad.
Cláudia Berliner. São Paulo: Escuta, 1988.
________, (1988)“Por qué el mal?”, in La Nueva Clínica Psicoanalítica y la Teoria de
Freud – aspectos fundamentales de La locura privada. Buenos
Aires,Amorrortu, 1993.
_________, La causalité psychique - entre nature et
culture. Paris, Odile Jacob, 1995.
_________. Pourquoi les pulsions de destruction ou de
mort?. Paris, Panama2007.
Menezes, L. C., “Freud e a pedagogia” in Fundamentos de uma Clínica Freudiana. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.
Pelegrino, H., “Pacto edípico e pacto social” in Py, Luiz Alberto
(org), Grupo sobre grupo, Rio de Janeiro, Rocco, 1987.
Savater, F.,Schnapper, D., Shayegan, D., “La tolérance, l’indifférence, l’intolérable” in
Supplément à la revue Esprit, novembre, 2001.
Selaibe, M., “Raízes da Intolerância e Processo Civilizatório” (a ser publicado pelo
LEI/USP, numa coletânea relativa ao curso virtual “Reflexões
Psicanalítica sobre Intolerância” ministrado pelo CEPI/LEI, no segundo
semestre?2008.
_________, “Enlace Libidinal e Tolerância” in Percurso- revista de
psicanálise, n. 40, 2008.
_________, “Raízes Psíquicas da Intolerância”. 2006. Disponível
no site www.rumoatolerancia.fflch.usp.br
_________,“Intolerância Precoce: a fome de zero a seis”. 2005. Disponível no
site www.rumoatolerancia.fflch.usp.br
Um diálogo entre Einstein e Freud - Por que a guerra? http://www.fes.org.br/media/
[1] Cf. F. Savater, “À quel engagement conduit la tolérance ?” Entretien avec Savater, F.,Schnapper, D.,
Shayegan, D., “La tolérance, l’indifférence, l’intolérable” in Supplément à la revue Esprit,
novembre, 2001, p. 5-10.
[2] Cf. Um diálogo entre Einstein e Freud - Por que a guerra? http://www.fes.org.br/media/File/estado_e_sociedade/Einstein%20e%20Freud.pdf
[3] Idem.
[4] S. Freud, Le Malaise dans la culture, op. cit.., p.297.
[5] Idem.
[6] Freud, 1915, p. 2105.
[7] Freud, 1930, pp. 3047-8.
[8] H. Pellegrino, “Pacto Edípico e pacto social” in Py, Luiz Alberto (org.), Grupo sobre grupo, Rio de
Janeiro, Rocco, 1983.
[9] J.-D. Nasio, Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa, Rio de Janeiro, Zahar, 2007, p.12.
[10] H. Pellegrino, op. cit.
[11] G.Dimenstein, 2006, p.53.
[12] A frase de Freud ao final da carta a Einstein é “ (...) tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra.”