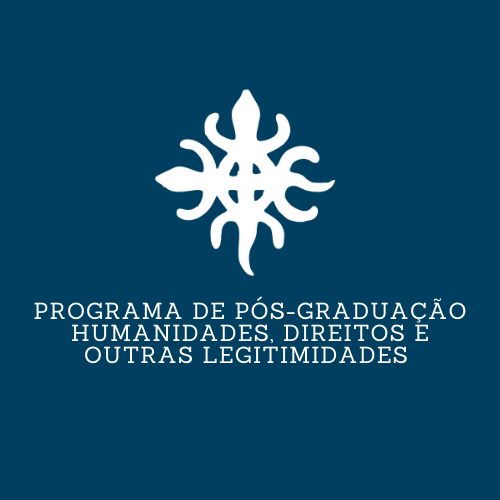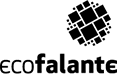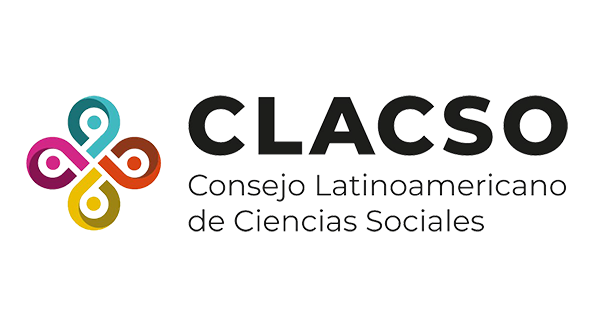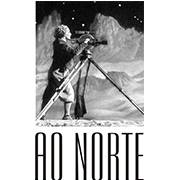Pesquisador Principal: Rodrigo Medina Zagni
Qualificação:
Historiador (FFLCH/USP)
Doutorando em Práticas Políticas e Relações Internacionais (PROLAM/USP)
Professor de Política e Geopolítica da Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL)
O lugar da guerra e da intolerância na contemporaneidade
“A guerra continua a ser a mais mortal ameaça para a existência da civilização moderna. Outros males talvez igualmente malignos foram afastados no passado. Por esse motivo não se considerará impossível a eliminação da guerra. Nos anos vindouros, haverá ao menos uma oportunidade para aprenderem os seres humanos a pensar em si próprios como membros de uma comunidade mundial e para as nações descobrirem que a honra de perecer pela espada dificilmente poderá recomendar-se a cérebros racionais. Quando chegar esse dia, não haverá mais necessidade de substituir manteiga por balas ou de instituir alianças poderosas para preservar as recompensas de alguma vitória prévia. O mundo estará apto, então, para compreender, mais uma vez, que os verdadeiros meios indispensáveis ao progresso humano são a sabedoria, a tolerância e o respeito pela fraternidade e pela dignidade do homem.”
Edward McNall Burns
A guerra, segundo a definição dada no âmbito da Ciência Política e sua subárea da Segurança Internacional Contemporânea - que tratam mais diretamente de suas estruturas funcionais -, é um meio pelo qual se busca resoluções para conflitos, por meio do próprio conflito. Constitui em si um paradoxo e um dilema, dado que a busca pela ordenação do sistema internacional, em estado de natureza caótico, por meio da implementação de sistemas de segurança, gera insegurança nos atores desse sistema, levando a uma espiral de conflito cuja resultante é a guerra, que reordena os elementos do sistema.
As catastróficas experiências da primeira metade do século XX, aliadas à possibilidade de destruição civilizacional no cotidiano da Guerra Fria, levaram contudo ao consenso de que as guerras deveriam ser evitadas por meio de instituições supranacionais, segundo o princípio kantiano de segurança coletiva, encarregadas da manutenção da ordem no sistema internacional.
Os princípios de segurança coletiva e de equilíbrio de poder, respectivamente liberais e realistas, foram articulados na edificação de instituições incumbidas de manter a paz, com o recurso da força em relação a Estados predadores (via de regra associados a regimes totalitários).
Mas os princípios, ainda vigentes nas organizações internacionais, têm que lidar hoje com novos desafios e paradigmas: a ascensão de atores não-estatais como grupos fundamentalistas que instrumentalizam o terror como forma de fazer a guerra; e um novo sistema internacional não mais em equilíbrio, mas ordenado sob a hegemonia de um só ator, os EUA, que apesar de pautarem suas ações de política externa nos princípios liberais atuam unilateralmente acentuando ressentimentos nos atores subalternos.
Segundo a concepção realista, o próprio equilíbrio de poder resultante é precário, e a política engendrada pelo hegemona se torna antagônica, quando os preceitos liberais são acompanhados por práticas semelhantes às dos Estados totalitários.
Daí o paradoxo que aflige às próprias organizações internacionais, que tentam manter o equilíbrio num sistema ordenado sob hegemonia. Resulta do antagonismo a ascensão de novas organizações que lidam diretamente com o resultado do recurso constante da força, num equilíbrio precário regulado por conflitos armados, como a Amnesty International, os Médicos sem Fronteiras, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e inúmeras organizações não governamentais.
A concepção clauzewitziana, de que a guerra seria a continuação da política por outros meios, durante as guerras mundiais foi re-elaborada, ocupando a guerra o mesmo lugar da política, o que após o término dos conflitos não se reverteu.
Segundo os professores Seymour Melmann e John Saxe-Fernandez os EUA não desmilitarizou nem sua economia, nem sua política, resultando numa sociedade onde a guerra é parte constitutiva de sua própria cultura.
A guerra é vista portanto como veículo da paz, e sociedades militarizadas, como hegemônicas num sistema internacional submetido pela força, deparam-se mais recentemente com os resultados catastróficos do estabelecimento de uma cultura da guerra. O fenômeno é perceptível na exaltação que se faz em filmes de ação, em jogos para computadores e até mesmo nos brinquedos infantis como réplicas de armas de fogo e até mesmo ambientes que simulam com extremo realismo situações de combate.
A exaltação à guerra nos vários segmentos das sociedades modernas não escapa ao universo acadêmico.
A guerra vem sendo enaltecida como um fator determinante para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias, para a organização social e política dos Estados, estruturação militar dos territórios e delimitação de fronteiras. Até mesmo para o desenvolvimento da medicina, no que tange à cura de doenças, descoberta de medicamentos, desenvolvimento de novos tratamentos, técnicas cirúrgicas e anestésicas; além de auxiliar no igual desenvolvimento de diversas outras áreas como transportes, comunicações e das ciências em geral.
A guerra também é disposta, por pensadores de diversos matizes, entre as doenças, epidemias, fome, calamidades, práticas anticoncepcionais e até mesmo a sujeição moral do homem, como obstáculo natural ao crescimento populacional, e sem os quais, gravemente, a humanidade sofreria com a eclosão de problemas irremediáveis.
A guerra foi alçada à dimensão sublime da arte, ou a arte foi re-significada para se referir exclusivamente ao seu modus operandi, tendo sido defendida e estudada desta forma.
A guerra foi definida ainda como um fenômeno político, econômico e cultural, ou seja, um "nó civilizacional" que entrelaça povos, etnias, ideologias e culturas as mais distintas possíveis. Como se construísse mais do que destruísse, e como se o custo social decorrente dela fosse anulado por qualquer advento moderno.
Foi incrustada à condição humana, como decorrente natural de seu comportamento social, e assim designada como um componente fundamental da saga do Homem na História.
Passaram as guerras a serem vistas como marcos decisórios em processos históricos complexos.
Para além das apologias feitas à guerra - em muito empreendidas pelos historiadores que enveredaram para uma narrativa de História Militar quase mecânica -, e sem querer de forma alguma empreender uma espécie de juízo moral da História, os conflitos armados são de fato as arenas onde perecem exércitos pelas mãos de homens cuja ocupação e profissão se fizeram pela guerra, e os tantos que incorporaram, incontinenti, fileiras inteiras levadas aos combates; e por fim também pelos civis mortos, desabrigados, deslocados e violentados.
Pelo custo social de sua existência, qualquer “melhoramento” decorrente das guerras desfaz-se diante da barbárie ou localizada ou dos holocaustos.
O papel que as guerras ocupam hoje na História se dá em função de que nelas foram decididos os destinos de estadistas e de nações inteiras, e aí o mérito enaltecido passa a ser a astúcia na geopolítica das manobras de diplomacia e movimentos de guerra, não o exercício de reflexão crítica sobre o poder destrutivo que nelas foi liberado ou pela capacidade de resistir e sobreviver frente a esses poderes.
Não podemos ser reducionistas e determinar que, em sua grande maioria, tiveram a finalidade de defender exclusivamente interesses econômicos representados por classes privilegiadas de determinada civilização ou de classes ascendentes que reivindicavam o mesmo prestígio que gozavam as aristocracias.
A guerra é um fenômeno complexo, um nexo de diversas motivações: econômicas, políticas e culturais. Porém, as fileiras e as valas foram preenchidas em sua grande maioria pelos atores sociais subalternos. O derramamento de seu sangue determinaria o futuro da classe aristocrática em primazia, riscando fronteiras ou forjando o ouro das economias nacionais.
Mas a guerra não obedece exclusivamente a um fator de incidência apenas, como a luta de classes subordinada a interesses econômicos. Há ainda questões étnicas, ideologias megalômanas e sonhos grandiloqüentes de supremacia racial, além de questões religiosas e culturais, não só inclusas secundariamente, mas muitas vezes determinantes.
Exatamente a intolerância frente às diferenças étnicas e religiosas corroboraram, junto de fatores econômicos e político-ideológicos, na eclosão dos embates de maior vulto do século XX e de toda a História Contemporânea: as duas grandes guerras mundiais, das quais resultaram as duas maiores hecatombes de nossa história recente: o holocausto armênio e a shoá judaica.
O lugar dos holocaustos num laboratório e num museu
“Nós, que sobrevivemos aos Campos, não somos verdadeiras testemunhas. Esta é uma idéia incômoda que passei aos poucos a aceitar, ao ler o que outros sobreviventes escreveram – inclusive eu mesmo, quando releio meus textos após alguns anos. Nós, sobreviventes, somos uma minoria não só minúscula, como também anômala. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. Os que tocaram, e que viram a face das Górgonas, não voltaram, ou voltaram sem palavras”.
Primo Levi
A História, a Arte e a Educação possuem, intrinsecamente, um potencial avassaladoramente transformador, o que altera fundamentalmente a função de espaços museais como meros repositórios para sua reserva e tratamento, sendo o ato comunicacional uma ação potencialmente educativa e transformadora da sociedade.
Em uma sociedade eivada de conflitos e intolerâncias, um “Museu da Tolerância” deverá constituir portanto instrumento para a construção de uma cultura da paz. Mas como fazê-lo?
Para Wolfgang Von Goethe “em última instância, a arte é mais radical do que a política, pois alcança aquelas camadas da alma do indivíduo em que se efetua a verdadeira transformação da sociedade humana”.
Mas a arte, assim como a História, não está mais contida, exclusivamente, em objetos tridimensionais ou em livros empoeirados em estantes perfiladas de bibliotecas. Se concordarmos com Joseph Kosuth, que “as verdadeiras obras de arte são as idéias”, e com as novas concepções sobre a ação educativa da História como disciplina, como âmbito de construção de indivíduos conscientes de seu papel de agentes da própria história, defrontamo-nos com um desafio de gigantescas proporções: pensar a função do museu, como forvm, onde idéias construirão os instrumentos de transformação da realidade social.
É preciso então, antes de qualquer coisa, compreender essa realidade em sua complexidade.
Sendo necessário um museu que traga à tona experiências passadas, que iluminem o tempo presente e possibilitem àquele que participa da experiência museal projetar a si mesmo entre vários futuros possíveis, de que tipo de presente estamos tratando, e com qual passado pretendemos lidar? As respostas passam pelos conflitos e intolerâncias do mundo contemporâneo e pelo desejo de construção de um futuro de paz universal, o que nos direciona para o passado sobre o qual precisamos lançar luzes.
Para a construção de indivíduos plenos e de sociedades tolerantes, o passado sobre o qual devemos nos debruçar é aquele eivado de exemplos do que o potencial destrutivo humano pôde causar, e com avassaladora magnitude como o Homem pôde reconstruir seu espaço, resistir e re-elaborar suas identidades, após a tormenta das guerras e dos genocídios, reedificando suas teias de relações sociais e fazendo sobreviver seus sistemas culturais.
Afinal “a espécie humana será a única que se ergue puxando-se pelos próprios cabelos, outro modo de dizer que o ser humano vive dos significados que ele mesmo se atribui”. Teixeira Coelho concordaria então que trazer o passado à tona faria emergir também os significados atribuídos pelo Homem ao Homem e suas ações, das destrutivas às construtivas, impondo-nos a reflexão de quais significados atribuímos nós, no tempo presente, a nós mesmos, na perspectiva da sociedade que queremos.
Quantos holocaustos serão necessários para que as guerras se retro-alimentem e façam funcionar economias cujo mote produtivo é a indústria bélica? Quanto sangue deve correr para lavrar a terra dos nacionalismos e riscar as fronteiras dos Estados com o fio da espada ou o fogo da metralha?
Quando a guerra consiste no que Clausewitz designou como a “continuação da política por outros meios”, e hoje não mais a continuação, mas a própria política, quando se tornou o pátio industrial motriz de economias nacionais, quando serviu e foi servida pela ciência e pela técnica, incrustrou-se nas relações internacionais de forma paradoxal, resultando nas guerras que acabariam com todas as guerras.
A sociedade contemporânea, estupefata com o advento da modernidade, industrializou a própria morte nas fornalhas e câmaras de gás nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Dos holocaustos havidos no século XX, como o armênio durante a Primeira Guerra Mundial, a shoá deve ocupar lugar central em nossas reflexões.
Numa sociedade pós-industrial é fundamental compreender que a lógica que concebeu o extermínio é advento da própria modernidade. Nesse contexto a shoá nos é extremamente significativa por dois fatores fundamentais: a recente tendência autodenominada revisionista, que a nega, e a necessidade de preservação de sua memória, que resiste no passado e combate no presente.
Gabriel Josipovici[1] associa esse revisionismo à crescente onda de anti-semitismo que assola a Europa, demonstrando força na aceitação leiga daqueles que desconhecem o passado, que objeto de contenda no presente chama-nos ao enfrentamento com ideologias notadamente fascistas.
Ao passo da frágil ilusão do mundo como uma “aldeia global”, no epicentro do que mais acertadamente pode-se designar como a era da revolução informacional, assistimos à ascensão de grupos e partidos políticos de extrema direita, muitos abertamente defensores de políticas racistas, xenófobas e homófobas, no Velho e no Novo Mundo.
Há um evidente descompasso entre o discurso de aceitação da diversidade cultural em um mundo “cada vez menor” e o comportamento de povos europeus, notadamente cultos como franceses, ingleses e alemães, no trato com imigrantes africanos, hindus, latino-americanos e árabes, entre outros; ou mesmo estadunidenses erguendo barreiras físicas para conter o fluxo migratório mexicano, resultando daí a morte daqueles que perecem no deserto pela sede ou afogados nos rios fronteiriços que se tenta transpor.
Do movimento da periferia do sistema capitalista em direção ao centro, resulta a ascensão de velhos e novos nacionalismos no Velho Mundo.
Na Alemanha os neonazistas do Nationaldemokratische Partei Deutschlands (o NPD), liderados por Peter Marx – jurista e secretário geral do grupo -, em 2004 conquistaram 12 cadeiras no Parlamento Regional do Estado da Saxônia, o Landtag, em Dresden, denunciando a assustadora aceitação de 9,2% dos eleitores, ou seja, 19.087 almas, à causa nazista que se pensava adormecida[2]. O perigo é ainda maior frente à coalisão que a NPD, na Saxônia, empreendeu com os cristãos-democratas. No discurso do partido inclui-se, entre outras coisas, a atribuição do desemprego que atinge boa parte dos jovens alemães aos imigrantes turcos, ao contrário do que qualquer estatística racional possa concluir em relação à proporção entre a força de trabalho estrangeira e a alemã naquele Estado, sem levar em consideração que aos imigrantes é destinado, via de regra, o subemprego.
Neste caso não se trata de anacronismo chamar a atenção para o perigo nazista, basta saber que um dos eleitos em 2004 para o Landtag da Saxônia, Jürgen Gansel, coleciona processos criminais movidos pela justiça alemã por apologia ao nazismo. Como o crime foi repetidas vezes cometido? Gansel tinha por hábito esticar o braço direito em público e gritar: “Heil Hitler!”
O mesmo Estado, junto de Brandemburgo e demais Estados do Leste, fizeram parte da lista de lugares “não recomendados” para negros durante a Copa do Mundo de Futebol de 2006, segundo documento do Conselho Africano na Europa.
Aliás o futebol vem se tornando um recorrente ambiente para o exercício de racismo e xenofobia na Alemanha. O país que foi berço do Romantismo alemão, que já carregava uma forte conotação anti-semita, é hoje berço de grupos como os Hoo-Na-Ra (hooligans, nazistas e racistas), que entre outras manifestações de intolerância e violência levaram a um jogo entre Cheminitz e St. Pauli uma bandeira com a suástica nazista.
Jogadores negros na Europa vêm sofrendo violências constantes por parte desses grupos, como o nigeriano Ade Ogungbure, do time alemão Sachsen de Leipzig, que durante um jogo contra o Hallescher foi alvo de cusparadas e insultos como “macaco” e “negro sujo”. O time, em resposta nos jornais, pintou-se de negro ostentando uma faixa com a frase: “Nós somos Ade”; e as torcidas alemãs nos jogos seguintes exibiu em resposta faixas onde se lia: “Vocês são Ade, nós somos brancos!”
Mas a Alemanha não detém o monopólio do anti-semitismo, do racismo, e de outras intolerâncias, tampouco dos hoolingans, que além da Inglaterra organizam-se na Polônia e também na Holanda. Vários jogadores brasileiros já sofreram este tipo de violência, mais comumente nos campeonatos inglês e espanhol.
A França das luzes também foi entenebrecida pela direita ultra-reacionária. Em 2002, quando foram divulgados os resultados do primeiro turno da eleição presidencial francesa, o mundo prendeu a respiração com o sucesso de Jean-Marie Le Pen, da Frente Nacional Francesa, grupo político com intrínsecas relações com a NPD. O mesmo Le Pen, durante a Copa do Mundo de Futebol, de 2006, aconselhou aos franceses que não torcessem pela seleção de seu país, pois seus jogadores não eram franceses, por conta de sua afro-descendência.
A versão austríaca do fascismo é o partido de extrema direita FPÖ. Apesar de pelas leis nacionais a apologia ao nazismo ser crime, jovens militares do exército austríaco, aparentemente bêbados, foram filmados na última semana levantando a mão para a saudação nazista, enquanto gritavam "Heil Hitler". O curtíssimo filme intitulado "Nazi Zustände in der Schwarzenbergkaserne" (Ambiente nazi no quartel de Schwarzenberg) foi veiculado no mundialmente popular site “You Tube”, e até que fosse retirado do ar sabe se lá quantas pessoas possam ter sido cooptadas pela propaganda fascistóide.
O conflito greco-turco, sérvio-croata, as disputas étnicas e tribais na África na forma de guerras civis - como o sangrento conflito em Ruanda e o conflito que se anuncia no Quênia -, a ascensão e organização de atores não-Estatais, grupos fundamentalistas que operam instrumentalizando o terror, o seqüestro e a tortura como métodos de ataque, e o assentamento de uma ordem internacional precária e instável sob a hegemonia unilateral dos EUA, com base em uma economia militarizada, uma política externa que tem a guerra em perspectiva (nas palavras de George W. Bush), e na prática já denunciada pela Amnesty International de torturas em Guantânamo e em Abul Ghraib, nos impõem desafios ainda maiores, rumo à construção de uma sociedade tolerante.
O desafio não é tão somente o combate às intolerâncias, mas não cair no dilema de combatê-las com mais intolerância, como o anti-americanismo, o anti-islamismo e o anti-judaismo, ou qualquer outro fundamentalismo, por exemplo.
Para escapar ao dilema, que parece impor-nos uma espiral de intolerância e conflito, o tratamento adequado parece-nos relativizar a maneira de como “ver o outro”.
Até mesmo os expansionismos econômicos e as pendengas políticas são acentuadas ou até mesmo desencadeadas pelo olhar etnocêntrico.
A mesma Antropologia, que nasceu no berço das convicções rácicas do século XIX, nos agraciou com a premissa de que não há povos ou culturas inferiores, há olhares equivocados, anacrônicos, etnocêntricos, xenófobos, descabidos. Os fatores que permitem a dominação de povos inteiros e até mesmo seu extermínio, como se deu com os judeus em sua quase totalidade, são externos à identidade étnica.
O motor que move as máquinas de guerra, as fábricas que industrializam o extermínio, que fazem da ciência o fator desagregador e até mesmo a medicina o instrumento da morte, é alimentado pelo combustível da intolerância. É isto, no final das contas, que se deve combater.
Retomar o tema em um museu implica em instrumentalizar a História para interferir na dura realidade presente.
Que então a História, a Arte e a Educação transformem o presente, pois as guerras e conflitos já se agigantam projetando-se nos comportamentos intolerantes para o futuro.
Por mais trágica que esta percepção da realidade possa parecer, o que justifica por si só a existência de um “Museu da Tolerância”, lembremo-nos das esperançosas palavras Arthur Miller, para mantermo-nos militantes da paz em um mundo em conflito:
“None of us is alone. We’re members of history. Some of us don’t know it, but you’d better learn it for your own preservation”.
A proposta
No âmbito da linha de pesquisa formulada, a proposta consiste em formar grupos de professores e alunos, dos quadros docente e discente da Universidade Cruzeiro do Sul, dos cursos de Ciências Sociais e História (bem como dos demais cursos interessados), que se organizariam e trabalhariam o fenômeno da guerra na dimensão das intolerâncias, em torno dos seguintes temas:
· Primeira Guerra Mundial e o holocausto armênio;
· Segunda Guerra Mundial e a shoáh;
· Intolerância e formas de resistência em períodos de guerra;
· Guerras contemporâneas e conflitos étnicos: as formas de mediação das organizações internacionais;
· Experiências de resolução de conflitos;
· O nazismo na América Latina;
· Grupos neonazistas em ação no Brasil;
· O neonazismo no mundo.