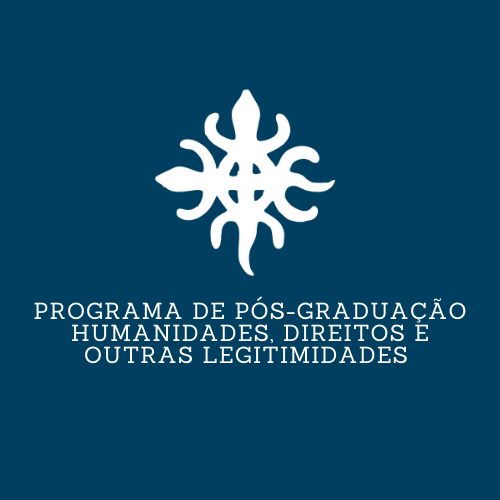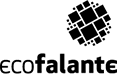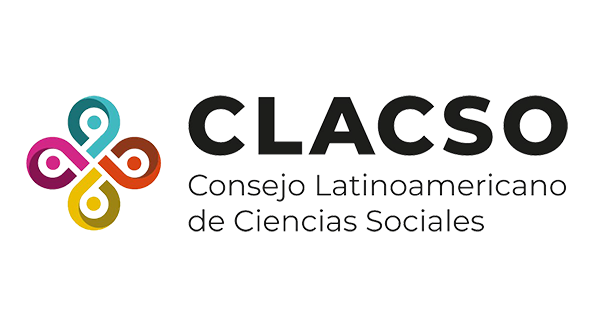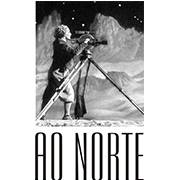César Augusto Baldi*
1. A declaração de direitos e a teoria das três gerações: uma das narrativas possíveis.
Naquela que se tornou a leitura "canônica", os direitos humanos vão-se sucedendo em três gerações ou dimensões: a primeira, relativa a direitos civis e políticos, iniciada com a Revolução Francesa e instauradora do processo de constitucionalização; a segunda, constante de direitos sociais, econômicos e culturais, e fruto, em boa parte, da Revolução Russa, da Revolução mexicana e da Constituição de Weimar; a terceira, constante de direitos transindividuais, associados a questões que não dizem respeito somente a indivíduos, mas à globalidade da comunidade humana e, inclusive, transgeracional.
Esta leitura, ainda quando criticada no campo temporal ( afinal, não seriam gerações sucessivas, mas processos complexos de instauração e de lutas de direitos humanos, simultânea e cumulativamente e, desta forma, o correto seria tratar de "dimensões"), tem um substrato ocidental - e mais ainda, eurocêntrico- por demais evidente: ela é a própria decorrência dos lemas da Revolução Francesa, em sua exata ordem de enunciação- liberdade, igualdade e fraternidade ( ou solidariedade).
Esta hipervisibilidade do momento instaurador no processo revolucionário burguês do século XVIII somente é construída à base de várias outras invisibilidades.1 Vale dizer, o próprio ato de afirmação da "modernidade" é a negação do fato da "colonialidade". Nesta visão histórica, a Revolução do Haiti, proclamando a independência de uma nação negra, não pode ser entendida, paralelamente, às declarações de direitos dos Estados Unidos e da França. Terá que ser considerada um "acidente histórico".23 Primeira: porque, privilegiando o século XVIII, deduz do processo capitalista francês e inglês (as potências hegemônicas da época) o desenvolvimento dos direitos humanos, olvidando toda a discussão, já posta no século XV, tanto por Portugal e Espanha ( então potências centrais), tematizadas, na época, a partir de uma pergunta central: seriam os índios nada mais que bárbaros sujeitos à escravidão ou poderiam ser considerados seres humanos dotados de alma e, portanto, passíveis de serem cristianizados? Segunda: porque concentrada na visão histórica firmada a partir do Iluminismo, e, mais adiante, ressaltando a internacionalização com a Carta das Nações Unidas de 1948, obscurece, no mesmo tempo, o próprio processo de colonização. Aliás, dois processos de colonização: o primeiro, baseado na escravidão de índios e negros, oculto ( mas existente) tanto na discussão ibérica, quanto na discussão posterior anglo-francesa; e o segundo, da própria Declaração Universal, porque as nações que protagonizaram a luta "contra a barbárie do nazismo" mantinham, intactas, suas colônias na Ásia e na África. Terceira: porque este movimento de "gerações" não é somente temporal, mas também espacial: supõe o deslocamento dos direitos humanos com ponto de origem na Europa e daí para o resto do mundo. Ora, no exato momento em que a Europa "inventava" os direitos humanos, os "propulsores da globalização dos direitos humanos estavam nas Américas, lutando contra a opressão colonial européia", o mesmo ocorrendo, mais tarde, com os povos africanos e asiáticos: "aí se encontravam os agentes da expansão do repertório dos direitos humanos, ao passo que na Europa estavam os poderes coloniais que oprimiam e difundiam o ódio entre povos e etnias." Quarta: porque está implícita a progressiva expansão da civilização com a redução da barbárie, e a passagem da tradição em direção à modernidade. Nesta medida, o mundo extra-europeu somente poderia ser entendido como atrasado, imutável, tradicional, conservador, arcaico. As visões homogêneas e a-históricas que se tem a respeito do Islã- como o comprovam todos os estudos orientalistas, aqui incluído Edward Said- não são nada mais do que decorrência deste padrão. Neste contexto, sequer é possível pensar em "modernidades alternativas". Por este motivo, tem razão Balakrishnan Rajagopal quando destaca que "a discussão da dialética cultura- universalidade é, no fundo, também uma discussão da dialética tradição-modernidade, que reside no coração do discurso do desenvolvimento. Esta similitude do discurso dos direitos humanos e do desenvolvimento na relação com a cultura é perdida quando somente se vê a universalidade e a relatividade como o oposto um do outro."
Este parâmetro de "desenvolvimento" está inscrito na própria descrição do Iluminismo, nos dizeres de Kant: "a saída do homem de sua menoridade de que ele próprio é culpado", sendo "a menoridade a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem" e, portanto, a maior parte da humanidade vive em estado de menoridade.4 Este estado de "menoridade"- e a expressão "minoria" tem sua origem nesta condição- é constitutivo do próprio "contrato social" instaurador dos direitos: não é à toa que a declaração da Revolução Francesa diz respeito ao "homem" ( direitos civis) e ao "cidadão" ( direitos políticos). Este processo de inclusão contratual é o mesmo processo de exclusão do âmbito de sua abrangência dos direitos das mulheres e das crianças. Não sendo partes no contrato originário, a eles não correspondem direitos.
2. As "monoculturas da mente", a modernidade e a colonialidade: a redução da diversidade epistemológica.
Esta visão de "direitos humanos" está baseada, por sua vez, numa específica epistemologia que, privilegiando a razão ocidental, assenta, portanto, na produção contínua de uma diferença epistemológica, não reconhecendo a existência, "em pé de igualdade, de outros saberes, e que por isso se constitui, de facto, em hierarquia epistemológica, geradora de marginalizações, silenciamentos, exclusões ou liquidações de outros conhecimentos".5 Tudo o que não é possível de ser incluído no cânone, seja ele democrático, científico, moderno ou jurídico, é excluído, ignorado, silenciado, eliminado e condenado à não-existência. É o que Boaventura de Sousa Santos sinteticamente denomina de "desperdício da experiência".
Em contraposição, propõe o autor português o reconhecimento das ausências, bem como das emergências, em que se "configuram outros presentes e outros futuros". Por meio de uma sociologia das ausências, procura-se demonstrar que o que não existe é, em realidade, ativamente produzido como não-existente, como alternativa não-crível à realidade.6 Trata-se da produção de sucessivas "monoculturas da mente" ( para utilizar uma expressão tão-cara a Vandana Shiva): 1) a monocultura do saber, com a produção da ignorância, em que a ciência moderna é erigida em critério único de verdade; 2) a monocultura do tempo linear, com a produção do resíduo, declarando atrasado tudo que é assimétrico em relação ao declarado avançado; 3) a monocultura da classificação social, com a produção da inferioridade, pela naturalização das hierarquias, de forma que quem é inferior, por ser insuperavelmente inferior, não pode ser alternativa a quem é superior; 4) a monocultura da escala dominante, com a produção da particularidade ou localidade, privilegiando as entidades ou realidades que alargam seu âmbito no globo; 5) a monocultura da produtividade, com a produção da improdutividade, que, na natureza, produz esterilidade e, no trabalho, é a desqualificação profissional.
Em suma, busca-se, pois, "revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e credibilizar esse conjunto por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas hegemônicas".7 Por este motivo, não se salienta, aqui, a "diversidade de culturas", mas sim uma "cultura de diversidade", assente no reconhecimento de distintas "ecologias", que não reduzem o existente apenas à visão hegemônica da razão ocidental imperial.
Ora, é justamente este privilégio epistemológico que fomentou o orientalismo, a concepção do Oriente que domina nas ciências sociais e nas humanidades, a partir do final do século XVIII, baseada nos seguintes pontos principais: uma distinção total entre "nós" ocidentais e "eles" orientais; a superioridade do Ocidente desenvolvido, racional e humano contraposta ao Oriente aberrante, inferior, subdesenvolvido, despótico; o Ocidente como entidade dinâmica, diversa, passível de autotransformação e autodefinição, ao passo que o Oriente é estático, eterno, uniforme, incapaz de auto-representação; e, por fim, o Oriente como entidade temível, que deve ser controlado pelo Ocidente (por meio de guerra, invasão, colonização, "pacificação", etc.).8
Como bem salienta Walter Mignolo, "não pode haver um Oriente, como "outro", sem o Ocidente como ‘o mesmo": o ocidentalismo "era a figura geopolítica que constelava o imaginário do sistema mundial colonial/moderno. Como tal, era também a condição da emergência do orientalismo".9 E as Américas, assim, não são diferentes da Europa ( como o são Ásia e África), mas sim a sua continuação. Conseqüentemente: não existe modernidade sem a colonialidade, ainda quando existam livros sobre colonialismo e outros sobre modernidade (como entidades separadas que não se imbricam, nem interagem), ainda quando se afirme que a modernidade é uma questão européia, e a colonialidade, algo que ocorre fora da Europa.
Corolário desta visão é que, mesmo as altas culturas orientais, têm sempre algo incompatível com a marcha da humanidade "rumo à modernidade e ao verdadeiro universalismo": elas devem ficar "congeladas em suas trajetórias", incapazes de qualquer modificação ou criação de alguma versão de modernidade "sem a intrusão de alguma força externa ( ou seja, européia)"10 O reconhecimento, por outro lado, de que a Europa foi, até a descoberta da rota atlântica, uma zona marginal do mundo coloca a questão que Wallerstein, ironicamente, destaca: da mesma forma que Montesquieu perguntava como alguém poderia ser persa, o grande desafio atual seria: " como alguém pode ser não-orientalista?"11
Esta visão de que a colonialidade é o outro lado da modernidade tem um aspecto interessante para os dias atuais. É que, no "Ocidente", a modernidade é a abertura geopolítica da Europa ao Atlântico, mas é, também, o momento em que a "invenção" ou "invasão" da América se dá, simultaneamente, à expulsão dos "mouros" e judeus da península Ibérica e ao início do genocídio dos índios.12 Em tempos de "guerra infinita ao terror" e de padronização de ajustes estruturais, associados a novas formas de colonialismo na Ásia, seria, no mínimo, irônico reconhecer o ressurgimento destas duas questões fundacionais da modernidade, sob a roupagem atual de um revigoramento da luta dos povos indígenas e do Islã como atores contra-hegemônicos. Na realidade, um "ajuste de contas" que é, ao fim e ao cabo, a continuação de um processo de "descolonização" interna e externa da modernidade, um verdadeiro reconhecimento e reinventar de "modernidades alternativas" e de ampliação da "monocultura da mente" para formas distintas de ecologias de saberes e práticas sociais.
Para o que importa, aqui, no tocante aos direitos humanos e a necessidade premente de uma interculturalidade, necessário, porém, afinar os conceitos. Uma filosofia intercultural pode nos mostrar que "outras civilizações, sem negar seus aspectos negativos, também tiveram outros mitos que lhes permitiram uma vida plena - evidentemente que para aqueles que acreditaram neles".13 Vale dizer, a interculturalidade não significa compactuar com todos os aspectos de uma cultura, mas tampouco considerá-los inferiores; não se abandona, portanto, a capacidade crítica e a análise dos fatores que podem bloquear as propostas de emancipação. Combate-se, aqui, com apoio em Raimundo Panikkar, tanto o monoculturalismo quanto o multiculturalismo. O primeiro, porque admite um grande leque de diversidades culturais, mas somente sobre o fundo único de um denominador comum. O segundo, porque consiste na existência separada e respeitosa entre as diversas culturas, cada qual no seu mundo, ou seja, pluralidade de culturas inconexas entre si.14 Enquanto um asfixia, por opressão, todas as culturas, o outro nos conduz a uma guerra de culturas (com a previsível derrota das menos fortes) ou nos condena a um apartheid cultural, que também se torna irrespirável.15
3. Os "Islãs" e o repensar dos direitos humanos.
A questão islâmica, nos dias de hoje, passa, inicialmente, pela "descolonização" da linguagem. A fórmula "guerra ao terror", em que se associa Islã e terrorismo, ao mesmo passo que distingue "bons" e "maus" islâmicos16, estes associados à "modernidade ocidental" e aqueles refratários a esta, não é nada mais que a reconfiguração, no século XXI, da distinção "bárbaro-civilizado", que marcou a fundação da "modernidade européia", em que a "razão ocidental", por seu próprio privilégio, pode aos outros nomear, sem a si mesmo ser nomeada.
Para além de um discurso único, o Islã- e aqui se utiliza o nome que a religião, no seu ato de fundação, a si própria se concedeu- constitui uma variedade de posicionamentos jurídico-políticos, em três vertentes principais- xiismo, sunismo e sufismo, a que correspondem, pelo menos, seis escolas jurídicas, distintas em suas visões de mundo, fontes jurídicas, processos emancipatórios e regulatórios, distribuição geográfica e peso institucional em diversos países, dependendo, inclusive, do "colonizador" que o hoje país islâmico teve- inglês, holandês, etc. O mais acertado, pois, seria falar em "Islãs" no plural sempre, sem esquecer, por óbvio, que a população árabe islâmica representa não mais que 13% do total, e que a maior população muçulmana se encontra na Indonésia ( mais de 200 milhões de crentes), e a segunda maior na Índia, país tradicionalmente tido apenas como hinduísta.
Para além de tudo isto, a complexa relação entre Islã e direitos humanos, passa, também, pela própria reconfiguração de ambos à luz um do outro, ou seja, pela demonstração de incompletude de lado a lado, a partir de uma perspectiva intercultural. Assim, por exemplo, o diálogo entre ambas as tradições tem demonstrado a possibilidade de encontrar um "topoi"17 comum na noção de "umma" ( comunidade de crentes),que denotaria a ênfase na coletividade, em detrimento à individualidade dos direitos humanos ocidentais, ao passo que o apego demasiado aos deveres implicaria a desconsideração de direitos de populações mais marginalizadas, tais como as mulheres. Weeramantry, por sua vez, entende que a cultura islâmica pode ajudar a enriquecer a cultura de direitos humanos justamente porque "a ênfase em direitos necessita ser temperada com a correspondente ênfase em deveres", do mesmo modo que "a ênfase em valores puramente materiais necessita ser temperada por uma ênfase nos valores sociais, humanísticos e culturais, que tendem a ser obscurecidos pela discussão de direitos puramente civis e políticos".18 Assim, se a fraqueza fundamental da cultura ocidental consiste em "estabelecer dicotomias demasiado rígidas entre o indivíduo e a sociedade, tornando-se assim vulnerável ao individualismo possessivo, ao narcisismo, à alienação e à anomia", a fraqueza fundamental da cultura islâmica é devida ao fato de não "reconhecer que o sofrimento humano tem uma dimensão individual irredutível, a qual só pode ser adequadamente considerada numa sociedade não hierarquicamente organizada".19
Esta, contudo, não é a única narrativa possível, de que os esforços de Azizah al-Hibri, ao retrabalhar a noção de "karamah" ( dignidade)20 e de Recep Senturk (Turquia),21 ao demonstrar a tensão entre ismah" ( inviolabilidade) e "âdammyyah" (humanidade), entre as distintas correntes jurídicas islâmicas, são apenas alguns bons exemplos. E mesmo a noção de "umma" tem vindo a ser problematizada em tempos pós-nacionais e de interação pela internet, como se percebe das propostas de Asma Barlas (Paquistão/EUA), Salman Sayyd ( UK) 22 e Farish Noor ( Malásia), este último pugnando por um "Islam bi la hudud", um Islã sem fronteiras e verdadeiramente universal, e que diante de uma realidade plural, multicultural, desigual, complexa, sem fronteiras e injusta, não pode ignorar que: 23
Necessitamos forjar uma nova cadeia de equivalências que equacione os interesses universais com os muçulmanos e os problemas universais com os muçulmanos. O coração muçulmano não pode sangrar somente quando vê lágrimas e sofrimentos muçulmanos. Se nós não formos movidos pelas condições ruins e o sofrimento dos outros, se não pudermos sentir a dor e as ansiedades dos outros, se não pudermos compartilhar a alegria e aspirações dos outros, então não podemos reivindicar os mesmos direitos e atribuições para nós mesmos. E tampouco podemos dizer que a nossa é uma abordagem universal do Islã. A mensagem universal do Islã não será - e não se transformará - uma realidade enquanto não ultrapassar os domínios do Dar-al-Islam."24
Esta releitura interna das tradições vem sendo defendida por autores tão díspares quanto Abdullahi An-naim ( Sudão/EUA),quanto Ebrahim Moosa ( África do Sul/EUA). O primeiro, por exemplo, a par de sua conhecida releitura do Corão, em termos de versos de Meca, que consubstanciaram a mensagem universal do Islã, da "Umma" inclusiva e de reconhecimento de dignidade para todos os seres humanos, e de Medina, em que se trataria da mensagem contextualizada ao tempo de sua "revelação", tem insistido na "relevância e necessidade, para os direitos humanos, de uma perspectiva local, nativa", diminuindo "formas de dependência intelectual e política", de forma a ter, localmente, "formas sustentáveis de proteção de direitos humanos e democracia"25, de que é exemplo sua afirmação de que:
"Se, por exemplo, quero falar sobre direitos humanos, liberdade de pensamento e racionalidade, porque deveria citar alguém como Kant? Por que não posso, como muçulmano, citar Ibn Rushd, que disse e escreveu as mesmas coisas centenas de anos antes de Kant? Esta é, para mim, a melhor forma, para nós, no mundo islâmico, de reavivar o debate sobre direitos humanos, individualismo, racionalidade e liberdade de pensamento e expressão.
Ebrahim Moosa, por outro lado, salienta que, da "mesma forma que uma tradição não é estática, mas constantemente se reinventa a si mesma, similarmente o equivalente cultural de direitos humanos não é fixo"26, e outras abordagens podem ser hábeis para encontrar uma "linguagem comum" entre o discurso de direitos humanos e de direitos islâmicos, de tal forma que os pensadores islâmicos devem ter em conta "as transformações sociológicas, econômicas e políticas que têm ocorrido nas sociedades islâmicas". Este é, por sua vez, o intento das chamadas "feministas islâmicas", aqui entendida a corrente de pensamento que defende "um discurso de igualdade de gênero e justiça social que deriva seu entendimento e mandato do Corão e procura a prática de direitos e justiça para todos os seres humanos na totalidade de sua existência num continuum de público-privado"27
Neste sentido, os intentos desenvolvidos por Asma Barlas, Amina Wadud28 e Heba Ezzat ( Egito) vêm desafiando, mais que o "mainstream" islâmico interno, a própria epistemologia em que se baseiam os desenvolvimentos do "feminismo" no Ocidente, seja porque : a) veiculando o pensamento em termos religiosos, a partir de uma releitura do Corão em termos não-patriarcais e em absoluta ênfase de igualdade e co-regência do universo, colocam em xeque a primazia da veiculação do discurso de direitos humanos em termos "seculares"- e a própria noção destes direitos se constitui como contraposto à dominação religiosa, então vigente na Europa, e, neste ponto, as dicotomias "secular" e "teológico", "leste" e "oeste" ou "Islã" e "democracia" ignoram o complexo, envolvente diálogo a respeito de igualdade de gênero em uma vigorosa sociedade civil"29 ; b) ao mesmo tempo, descredenciam o "status" privilegiado da ciência como forma de saber. Por fim, o próprio conceito, formulado pela última autora, de um "secularismo islamicamente democrático" é um sério repensar das noções de "umma" (comunidade islâmica), "civilidade", política, estado e secularismo, de forma a abraçar uma "pacífica luta por uma ‘civil jihad' contra a pobreza e a discriminação", desenvolvendo, assim, um "entendimento de uma política da presença, deliberação, comunicação e negociação na vida diária, bem como de um ativo papel das mulheres e das minorias na política local 30, colocando em contato os debates sobre Islã democrático e progressista e aqueles outros sobre democracia radical no mundo ocidental.
Estes projetos, que vêm sendo dinamizados por organizações tão distintas quanto a "Sisters in Islam" ( Malásia)31, "JUST" ( Malásia)32 ou "Progressive Muslims" e "Karamah" (EUA), não têm sequer desconsiderado a necessidade de uma "epistemologia corânica" na defesa de gays e lésbicas, de que a "queer jihad", na África do Sul, e o repensar da questão, por parte de Scott Kugle e Kecia Ali,33 são apenas alguns exemplos. O primeiro, aliás, insistindo, com base na leitura do Corão, na diversidade de sexualidades e no re-equacionamento da narrativa de Lot, e perguntando de forma explícita: "Por que não continuar a estender este desafiante foco de justiça para as esferas mais íntimas de nossas vidas sexuais, de forma a pensar de forma mais clara como as nossas vidas eróticas se cruzam com as nossas vidas espirituais?"34 Não é demais, lembrar, ainda, que o movimento negro islâmico foi não somente importante para a luta contra o apartheid na África do Sul,35 mas também o foi, no Brasil, para a luta abolicionista, no que diz respeito à Revolta dos Malês.
O confronto mais visível, contudo, nas sociedades européias é aquele que se deu quanto à utilização ou não do "véu islâmico". A par de englobar na mesma categoria comunidades que são ou não islâmicas- estas últimas utilizam o véu como símbolo de identidade nacional-, a discussão estabeleceu, no geral, uma associação imediata entre mulher "islâmica" e "submissa", em claro perfil orientalista, e contrário a todo o repensar "feminista" que já foi claramente salientado acima, e de que a Revolução Iraniana, em seu período inicial, com massiva participação feminina, é apenas uma faceta.
Por outro lado, ao se concentrar na "laicidade" ou no "secularismo", a discussão passou ao largo da questão de "gênero" e de autonomia mínima no sentido de escolha livre, como se a mera utilização do véu constituísse a abdicação da liberdade. Aliás, ignorou a própria multiplicidade de significados de sua utilização, de que a gama de cores ( vermelho, verde, laranja, amarelo, branco, negro, por exemplo) ou as distintas tradições islâmicas e a influência das regionalidades são apenas algumas facetas: "entre o véu haïk (tradicional), o niqab (fundamentalista: negro e que cobre todo o rosto) e o hiyab (versão islâmica moderna que, diferentemente dos demais, cobre a cabeça, mas deixa o rosto descoberto, de forma que o véu perde sua missão tradicional de fazer invisível e anônima a mulher no espaço público), há toda uma linguagem sociológica que expressa a diferença entre a nova geração e a precedente, entre a que estuda e sai e a reclusa, entre a que se afirma e a que se submete".36 E, por fim, relativamente à legislação francesa, a proibição da utilização de "símbolos religiosos ostensivos", nada mais fez que ressuscitar a discussão entre "religiões modernas" e "religiões arcaicas", reproduzindo a "monocultura do tempo linear", com privilégio absoluto à religião cristã, ignorando a complexa negociação de sentidos entre modernidade e tradição, espaços público e privado.37
4. O renascer das reivindicações indígenas em Abya Yala.
No que toca à questão indígena, o intento de "desconstrução" começa pela própria denominação do espaço geográfico habitado. É que América é a denominação que a Renascença deu para o mundo então conhecido, tendo como mote a tradição bíblica dos filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé. E América Latina, em contraposição a América Anglo-Saxã, é o resultado da configuração geopolítica instaurada com o início da hegemonia estadunidense no sistema-mundo, ao mesmo tempo em que Espanha perdia Cuba e Filipinas, em 1898, uma "latinidade", que, acentuando o hispânico e o português, ignora, solenemente, dentre outras, a diversidade cultural do Caribe e o Suriname ( em que 37% da população é descendente de imigrantes indianos). 38 Daí porque os povos indígenas tenham optado pelo nome kuna de Abya Yala ( "a terra onde vivemos"), um nome que se encontra em diálogo solidário ( e solidariedade, ensina Boaventura Santos, é o conhecimento-emancipação, oposto ao conhecimento do colonialismo) com as propostas de "Nuestra América", de Jose Martí ( Cuba), da "América Profunda", de Rodolfo Kusch ( Argentina) e da antropofagia, nas versões de Oswald de Andrade e de Darci Ribeiro. 39
Para além do português- e mesmo reconhecendo a persistência de comunidades italianas, alemãs, chinesas e japonesas, que conservam sua língua materna no território brasileiro- é de se reconhecer a existência de nada menos que 180 línguas indígenas faladas por 222 povos, a maior parte deles localizados na "Amazônia Legal", incluindo casos de multilingüismo entre as comunidades "tukano", embora apenas onze línguas tenham mais de cinco mil falantes ( baniwa, guajajara, kaingang, kayapó, makuxi, sateré-mawé, terena, ticuna, xavante, yanomami e guarani)40. Uma verdadeira Babel ignorada. Não é demais lembrar a existência de uma língua geral paulista, com origem no tupi, muito influente até o século XVII, e outra língua geral amazônica, a partir do tupinambá, nos séculos XVII e XVIII, conhecida, a partir do século XIX, como "nheengatu", que ainda se mantém como língua de comunicação entre índios e não-índios, entre índios de diferentes línguas e de povos que perderam suas línguas. Em realidade, o português somente se fixou como língua dominante no país pouco antes da Independência.41
Nas distintas cosmologias indígenas, têm-se uma quebra do monopólio da escritura, e, portanto, a história oral, que pode trabalhar com temporalidades, ritmos e conceitos distintos da história documental, acaba por revelar as percepções profundas sobre a dominação, a opressão e o colonialismo, bem como a renovação identitária, denotando, portanto, raciocínios históricos distintos e um privilégio epistemológico ao "escutar"e não ao "ver", típico do pensamento ocidental. 42
A existência de outras temporalidades, em antípoda à "monocultura do tempo linear", é bem evidente em vários cultos de antepassados existentes no Sudeste Asiático (em especial Vietnã, Laos e Camboja) e pode ser verificada na cosmologia aymara:43
Tudo isto mostra que nós, indígenas, fomos e somos, antes de tudo, seres contemporâneos, coetâneos e, nesta dimensão -o aka pacha- se realiza e desenvolve nossa própria aposta pela modernidade. Não há "pós" nem "pré", numa visão da história que não é nem linear nem teleológica, que se move em ciclos e espirais, que marca um rumo sem deixar de retornar ao mesmo ponto. O mundo indígena não concebe a história linearmente, e o passado-futuro estão contidas no presente: a regressão ou a progressão, a repetição ou a superação do passado estão em jogo em cada conjuntura e dependem de nossos atos, mais que de nossas palavras. O projeto de modernidade indígena poderá aflorar a partir do presente, numa espiral cujo movimento é um contínuo retro-alimentar-se do passado sobre o futuro, um "princípio-esperança" ou "consciência antecipante" ( Bloch), que vislumbra a descolonização e a realiza ao mesmo tempo. A experiência da contemporaneidade nos remete no presente- aka pacha- e, ao mesmo tempo, contém as sementes do futuro que brotam do fundo do passado - qhip nayr uñtasis sarnaqapxañani-. O presente é cenário de pulsões modernizadoras e arcaizantes, de estratégias preservadoras do status quo e de outras que significam a revolta e renovação do mundo: o pachakuti."
Isto pode implicar, como no caso da cultura andina, um conceito de justiça cósmica ( chaninchay), baseado na reciprocidade e na manutenção do equilíbrio cósmico, um processo de relacionalidade, em que se misturam relações interpessoais, mas também relações entre o homem e os fenômenos metereológicos, por exemplo, de modo que os rituais passam a ser parte importante no processo da restauração da ordem. 44 E significaria, também, um repensar de vários direitos: a) do próprio direito ao ambiente, fundado em cosmologia distinta ( uma teoria constitucional num Estado democrático pluralista deve levar este dado em conta e se voltar à diversidade também);45 b) à terra, porque esta, mais vinculada à ancestralidade e à coletividade, rompe com o viés privatista típico com que é tratada no mundo jurídico ; c) à água, porque fundamental ao desenvolvimento das atividades; d) à biodiversidade, porque coloca em xeque o privilégio da ciência ocidental frente ao "conhecimento tradicional" de curandeiros e xamãs, no que diz respeito em especial à farmacologia, ao mesmo tempo em que revigora a necessidade de patenteamento de seu conhecimento. Tudo isto em evidente contraposição às monoculturas da produtividade e do saber. E não se olvide, aqui, ainda, a luta dos indígenas da região andina e do Prata, no sentido da despenalização da folha de coca, na campanha "Coca y soberania", destacando as propriedades medicinais da planta. 46
Este protagonismo dos povos indígenas no caso brasileiro encontra substrato tanto no art. 231 da Constituição, quanto nos movimentos relativos aos 500 anos do Brasil e na incorporação, na ordem jurídica interno, da convenção 169 da OIT, esta última garantindo o respeito no tocante a "práticas sociais, culturais e religiosas", aqui incluído seu "direito consuetudinário", bem como a consulta prévia no caso de medidas "administrativas ou políticas que possam afetá-las diretamente". Ao mesmo tempo, o direito de as comunidades determinarem as prioridades para o seu próprio processo de desenvolvimento (art. 7º), implicitamente rompe com o padrão colonial de menoridade. Um "constitucionalismo multicultural", tal como previsto em países como a Colômbia, tem se deparado com a questão do autogoverno das comunidades indígenas, dos procedimentos penais e eleitorais internos e com os limites de atuação das cortes. 47
Da mesma forma, existem desafios gigantescos para a educação num processo de interculturalidade, pois esta deve abranger os sistemas de valores indígenas e, sempre que possível, na mesma língua materna e em regime de co-participação. Em muitos casos, para aprender, o indígena necessita desaprender o seu próprio conhecimento, porque a escola e a universidade não aceitam o seu saber como "legítimo".
Um passo interessante foi a adoção, como idiomas co-oficiais, do tukano, do binawa e do nheengatu, no município de São Gabriel da Cachoeira ( AM), pela Lei n 145/2002, recentemente regulamentada, 48 localidade com o maior percentual de população indígena do pais: 73,31%. Não se deve esquecer, contudo, que os processos de miscigenação têm constituído, em determinados paises, tais como Peru e Bolívia, em verdadeiro entrave de reconhecimento de direitos: os indígenas, durante muito tempo, foram invisibilizados como "campesinos". Daí porque Silvia Rivera Cusicanqui (Bolívia) denuncie os mecanismos de "mestiçagem colonial"49, que mantêm inquestionada a suposta hierarquia da cultura branca ocidental sobre as culturas nativas, normalizando, internalizando e naturalizando a violência, num processo similar àqueles do "racismo cordial"e do "branqueamento".
5. À guisa de conclusão: a cultura da diversidade e a necessidade de reconfiguração dos direitos humanos em perspectiva intercultural.
No contexto de estados pós-nacionais e pós-seculares, os problemas de direitos, justiça e igualdade têm sido pensados na perspectiva da inclusão. A inclusão, contudo, e talvez paradoxalmente, não é a resposta para os problemas de exclusão e nem para o cosmopolitismo. Pensar em inclusão significa, ainda e claramente, que o agente que estabelece a inclusão está, ele mesmo, além da inclusão: afinal, "se se vai incluir toda a gente de um dado grupo, primeiro alguém tem que decidir quem são os membros desse grupo."50 Não é disto, pois, que se trata- o processo de inclusão é, sempre, um processo de várias e novas outras exclusões-, mas sim da possibilidade da participação e, portanto, de as vozes "silenciadas e marginalizadas" entrarem "em conversação de projetos cosmopolitas", ou seja, "o reconhecimento e a transformação do imaginário hegemônico a partir de uma perspectiva dos povos em posições subalternas."51
Do que se trata, pois, é de um cosmopolitismo que assente em pressupostos distintos daqueles que fundaram a discussão, por exemplo, em Kant. Sim, porque este pressupunha, em realidade, uma "geopolítica do conhecimento" em que os povos não-ocidentais não cabiam em seu projeto, o que fica evidente em sua taxonomia das raças branca ( europeus), amarela ( asiáticos), vermelha ( índios americanos) e negra ( africanos), em que somente a primeira "possui, em si mesma, toda as forças motivadoras e talentos". 52
Em cada cultura, "há uma história de luta pela determinação de suas metas e valores", o que gera, pelo menos como possibilidade, "não uma, mas uma pluralidade de tradições". Desta forma, por trás de uma face que se nos oferece uma cultura como "uma tradição estabilizada em um complexo horizonte de códigos simbólicos, de formas de vida, de sistema de crenças, etc, há sempre um conflito de tradições". Um conflito de tradições que, por sua vez, deve ser lido "como a história que evidencia que em cada cultura há possibilidades truncadas, abortadas, por ela mesma; e que, conseqüentemente, cada cultura pode também ser estabilizada de outro modo como hoje a vemos".53 Esta via alternativa à cultura estabilizada, pode ser obtida "seja recuperando a memória das tradições truncadas ou oprimidas na história de seu universo cultural, seja recorrendo à interação com tradições de outras culturas, ou inventando perspectivas novas a partir do horizonte das anteriores".54 Um fenômeno que Raúl Fornet-Betancourt designa como "desobediência intercultural" e que passa pelo reconhecimento de que "identidades culturais são processos conflitivos que devem ser discernidos, e não ídolos a conservar ou monumentos de um patrimônio nacional intocável".55
Mais que diversidade, talvez fosse melhor falar em pluri-versidade, multidiversidade (Ashis Nandy) ou "diversalidade" (Walter Mignolo), uma reconfiguração dos direitos humanos como um conector dos diversos processos de subalternização (ou "contrahegemonia"), de lutas e resistências por noções distintas de justiça, apropriando e transformando os projetos globais ocidentais, expressando as múltiplas "vozes do sofrimento" e as distintas construções históricas de dignidade, numa crítica radical a todas as formas de fundamentalismo. 56
Além dos contributos assinalados, no tocante às tradições islâmica e indígena, diversos outros poderiam ser citados, tais como: nas cosmologias indígenas, o diálogo intercultural de Luis Macas ( Equador)57; nas tradições africanas, o diálogo entre as concepções de direitos humanos e o ubuntu (interdependência), em especial na África do Sul58; na tradição budista, o "budismo engajado" de Sulak Sivaraksa ( Tailândia) 59 e a luta de Aung San Suu Kyi ( Myanmar/Birmânia), prêmio Nobel da Paz 199160; na tradição confuciana, Tu Weiming ( China)61; na tradição hinduísta, Ramon Panikkar62, Arvind Sharma ( Índia)63 e a luta das feministas "dalits"64; e, a partir do desenvolvimento das noções gandianas de satyagraha ("desobediência civil"contra leis injustas), swaraj ( auto-gestão e auto-organizacão ) e sarvodaya (inclusão), os movimentos de bija swaraj (biodiversidade e democracia de sementes), anna swaraj (soberania alimentar) e jal swaraj ( democracia da água), parte do projeto "democracia da Terra", de Vandana Shiva ( Índia). 65
Trata-se, pois, de um "pluriverso" de discursos emancipatórios, dos quais estas experiências, lutas e movimentos são apenas uma parte, e que, em conversação intercultural umas com as outras, formam alianças que lutam contra as opressões por todos os lugares66, e que assumem significados precisos e particulares quando decodificados localmente em cada contexto cultural. Se os direitos humanos podem se constituir em "patrimônio comum da humanidade", eles devem ser "desprovincializados" e "descolonizados", por meios de mútuas trocas de experiências e saberes com outras culturas.
1 COSTA, Sérgio. Direitos humanos e anti-racismo no mundo pós-nacional. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 68, p. 28, março de 2004.
2 Vide a este respeito: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the past: power and the production of history. Boston: Beacon, 1995.
3 RAJAGOPAL, Balakrishnan. International law from below - development social movements and Third World Resistance. New York: Cambridge University, 2003, p. 212.
4 KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 11.
5 SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula G & NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo. Op. cit., p. 45.
6 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: ______ (org). Conhecimento prudente para uma vida decente. Porto: Afrontamento, p. 743-6, 2003.
7 Idem, ibidem, p. 750.
8 SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 50-70.
9 MIGNOLO, Walter D. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 82
10 WALLERSTEIN, Immanuel. European universalism: the rethoric of power. New York: New Press, 2006, p. 33
11 Ibidem, p. 44 Ainda que, neste mais recente trabalho, Wallerstein associe a discussão sobre a intervenção das potências européias e o discurso sobre a conquista das Américas ( seminários de Valladolid, com os argumentos de Bartolomé de las Casas e Sepúlveda), sua crítica ainda não destaca, suficientemente, o processo colonial como constitutivo da própria problemática, nem sequer identifica o processo atual como sendo "neocolonial". Os argumentos estão relacionados aos direitos humanos, ao universalismo e à possibilidade de intervenção. Daí porque Mignolo saliente que sua crítica é uma crítica não-eurocêntrica do eurocentrismo. Para uma discussão que associa universalismo e relativismo com a questão colonial e os dualismos "bárbaros/civilizados" e "tradição/modernidade", vide: RAJAGOPAL, Balakrishnan. International law from below: development, social movements and Third World resistance. Cambridge: Cambridge University, 2003, p. 202-232
12 DUSSEL, Enrique. Transmodernidad e interculturalidad ( interpretación desde la filosofía de la liberación). IN: FORNET-BETANCOURT. Crítica intercultural de la filosofia latinoamericana actual. Madrid: Trotta, 2004, p. 138-140. Saliente-se, é verdade, que se trata, neste caso, da primeira modernidade, tipicamente ibérica, a que se seguiu uma outra modernidade holandesa, para, posteriormente, dar-se uma última, francesa e inglesa, que, contudo, como destaca Walter Mignolo, é aquela que, com o Iluminismo, vai estabelecer toda uma forma de pensar que hierarquiza as modernidades, ao mesmo tempo em que reafirma o eurocentrismo.
13 PANIKKAR, Raimon. Religion, filosofia y cultura. Disponível em: <www.polylog.org/them/1.1/fcs3-es.htm>, § 87.
14 PANIKKAR, idem, § 88.
15 Idem, ibidem, § 93.
16 Vide, neste sentido, a distinção feita em: MAMDANI, Mahmood. Good muslim, bad muslim: America, the Cold War and the roots of terror. Petaling Jaya: Forum, 2005.
17 Os topoi, como já nos ensinara a Retórica, são lugares comuns teóricos, premissas fundantes da argumentação que, sendo auto-evidentes, permitem a produção de troca de argumentos e, portanto, o diálogo ( PERELMAN, Chaim & OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Traité de l'argumentation. Bruxelles: Université de Bruxelles, 1988, p. 112-113). O deslocamento dos topoi fortes de uma cultura para o contexto de outra, contudo, torna-os vulneráveis, porque, recontextualizados, passam a ser vistos como meros argumentos e não mais como premissas evidentes. Daí tal hermenêutica ter sido intitulada por Raimundo Panikkar ( vide nota 62) como "hermenêutica diatópica" ("dia": através; "topos": lugares comuns teóricos).
18 WEERAMANTRY, C. G. Islamic Jurisprudence: an international perspective. Kuala Lampur: Other Press, p. 125, 2001.
19 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. In: BALDI, César Augusto (org). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 260.
20 Vide, especificamente, o site www.karamah.org
21 SENTURK, Recep. Sociology of Rights: "I am therefore I have rights": Human rights in Islam between Universalistic and Communalist Perspectives. IN: BADERIN, Mashood; MONSHIPOURI, Mahmood; WELCHMAN, Lynn & MOKHTARI, Shadi. Islam and Human rights: advocacy for social change in local contexts. New Delhi: Global Media, 2006, p. 375-416; SENTURK, Recep. Minority in Islam: from Dhimmi to citizen. IN: HUNTER, Shireen & MALIK, Huma ( org). Islam and Human Rights: advancing a US-Muslim Dialogue. Washington: CSIS, 2005.
22 SAYYID, S. Beyond Westphalia: Nations and Diasporas- the case of Muslim Umma. Jamaat-e-Islami Bangladesh. Disponível em <http://www.jamaat-e-islami.org/rr/nationsdiasporas_sayyid.html>
23 NOOR, Farish A. What is the victory of Islam? Towards a different understanding of the Umma and political success in the contemporary world. In: SAFI, Omid (ed). Progressive Muslims - on justice, gender, and pluralism. Oxford: Oneworld, 2003. p. 332.
24 A doutrina jurídica islâmica clássica distingue "Dar al Islam" ( espaço de mundo islâmico) e "Dar al Harb" (espaço de mundo não-islâmico), daí sustentando alguns que ao primeiro corresponderia o mundo de paz, e outro, de permanente guerra. Tal doutrina, contudo, não decorre nem do Corão nem dos ditos do profeta. Para a rediscussão de tais conceitos, incluindo a desmistificação da equivalência entre "jihad" e "guerra santa", vide: FADL, Khaled Abou El. The great thief: wrestling Islam from the extremists. San Francisco: Harper, 2005, p. 230-250; RAMADAN, Tariq. Jihad, violence guerre et paix en islam. Lyon: Tawhid, 2002; SARDAR, Ziauddin. What do muslims believe? London: Granta, 2006, p. 75-77; BARLAS, Asma. Jihad=Holy war= Terrorism: the politics of conflation and denial. Disponível em: http://www.asmabarlas.com/PAPERS/2003_AJISS.PDF
25 AN-NA'IM, Abdullahi. Muslim must realize that there is nothing magical about the concept of human rights. IN: NOOR, Farish. New voices of Islam. Netherlands: ISIM, 2002, p. 11. Disponível em : http://www.isim.nl/files/paper_noor.pdf
26 MOOSA, Ebrahim. The dilemma of Islamic Rights Schemes. Works and Knowledges Otherwise (WKO ), vol I, dossier 1 ( Human rights, democracy and Islamic law), number I, fall 2004, Disponível em : http://www.jhfc.duke.edu/wko/dossiers/1.1/MoosaE.pdf , p. 16.
27 BARLAS, Asma. Islam, feminism and living as the ‘muslim women' . Disponível em: <http://www.muslimwakeup.com/main/archives/2004/03/islam_feminism.php
28 WADUD-MUHSIN, Amina. Qur'an and woman: rereading sacred text from a woman's perspective. New York: Oxford University Press, p.15-29 e 62-94, 1999. Vide também: WADUD, Amina. Inside the gender jihad: women's reform in Islam. Oxford: Oneworld, 2006
29 BARLAS, Asma. Globalizing equality: muslim women, theology, and feminism. IN: NOURAIE-SIMONE, Fereshteh. On shifting ground: Midle Eastern women in the global era. New York: Feminist Press, 2005, p. 107.
30 EZZAT, Heba Raouf & ABDALA, Ahmed Mohammed. Towards an islamically democratic secularism. IN: AMIRAUX, Valérie et allii. Faith and secularism. London: British Council, 2004, p. 50.
31 http://www.sistersinislam.org.my
32 http://www.just-international.org
33 KUGLE, Scott Siraj al-Haqq. Sexuality , diversity and ethics in agenda of progressive muslim. IN: SAFI, Omar. Progressive muslims. Oxford: Oneworld, 2003, p. 192-193; ALI, Kecia. Sexual ethics & Islam: feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence. Oxford: Oneworld, 2006; KUGLE, Scott. Queer Jihad: a view form South Africa. Disponível em: http://www.isim.nl/files/Review_16/Review_16-14.pdf ; ANWAR, Ghazala. Female homoeroticism in Islam. Encyclopedia of Homosexuality. ( volume on lesbianism) Taylor and Francis, 1990; bem como os sites http://www.al-fatiha.org , http://www.theinnercircle-za.org e da "queer jihad" (http://www.well.com/user/queerjhd/), bem como a entrevista de Suleiman X, um americano convertido ao Islã ( disponível em: http://gaytoday.badpuppy.com/garchive/viewpoint/013100vi.htm)
34 KUGLE, Scott Siraj al-Haqq. Sexuality , diversity and ethics in agenda of progressive muslim. IN: SAFI, Omar. Progressive muslims. Oxford: Oneworld, 2003, p. 227.
35 ESACK, Farid. Qur'an, liberation and pluralism: an Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression. Oxford: Oneworld, 1997, p. 61-81.
36 MARTÍN-MUÑOZ, Gema. La percepción occidental de los conflictos en el mundo musulmán: cultura frente a política. Direito e Democracia, (5) 1: 2004, 53-54.
37 BENHABIB, Seyla. The claims of culture: equality and diversity in the global era. Princeton: Princeton University, 2002, p. 94-100.
38 Para a discussão destas questões: MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America. Oxford: Blackwell, 2005; GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: UFJF, 2005.
39 Para uma discussão dos trabalhos de Jose Martí e da antropofagia: SANTOS, Boaventura de Sousa. Nuestra América. Reinventar um paradigma subalterno de reconhecimento e redistribuição. IN: A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006, p. 191-225.
40 Os dados estão disponíveis no levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, no site : http://www.socioambiental.org/pib/portugues/linguas/index.shtm
41 VILLALTA, Luiz Carlos. Uma Babel colonial. Nossa história. VeraCruz/Fundação Biblioteca Nacional, 1(5): p. 58-63, março 2004.
42 RIVERA CUSICANQUI, Silvia. El privilegio epistemológico y teórico de la historia oral: da la lógica instrumental a la descolonización de la historia. Temas sociales, 1987.
43 RIVERA CUSICANQUI, Silvia. Modernidad y situación colonial. La Paz: La Prensa, 30 julio 2006. Disponível em : http://www.laprensa.com.bo/20060730/opinion/opinion02.htm
44 ESTERMAN, Josef. Filosofia andina.estudio intercultural de la sabidoria autóctona andina. Quito: Abya Yala, 1998, p. 233-234.
45 Para uma discussão sobre os desafios do constitucionalismo moderno, no sentido do reconhecimento da diversidade: TULLY, James. Strange multiplicity: constitucionalism in an age of diversity. 6ª ed. Cambridge: Cambridge University, 2005, em especial p. 62-78
46 Vide o site www.cocasoberania.org Para uma discussão sobre as percepções da produção cocaleira boliviana no contexto das políticas dominantes de interdição e erradicação, vide: RIVERA CUSICANQUI, Silvia. Las fronteras de la coca: epistemologías coloniales y circuitos alternativos de la hoja de coca. La Paz: IDIS-UMSA/Aruwiyiri, dezembro de 2003.
47 MALDONADO, Daniel Bonilla. La constitución multicultural. Bogotá: Siglo del Hombre, 2006, em especial a discussão da jurisprudência correspondente em p. 148-270.
48 http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1241958-EI306,00.html
49 RIVERA CUSICANQUI, Silvia. Nuevos partidos, viejas contradiciones. IN: ALBO, Xavier & BARRIOS, Raul. Violências encubiertas em Bolívia. La Paz: CIPCa-Aruwyiri, 1993, p. 127
50 WALLERSTEIN, Immanuel. O albatroz racista: a ciência social, Jörg Haider e a resistência. Revista Crítica de Ciências Sociais, (56): fevereiro de 2000, p. 20.
51 Neste sentido, a crítica de: MIGNOLO, Walter. The many faces of cosmo-polis: border thinking and critical cosmopolitan. Disponível em: http://www.duke.edu/~wmignolo/InteractiveCV/Publications/ManyFacesCosmo.pdf , p.9.
52 A respeito desta discussão vide: EZE, Emmanuel Chukwudi. El color de la razón: la idea de "raza" en la antropología de Kant. In: MIGNOLO, Walter (comp). Capitalismo y geopolítica del conocimiento. Buenos Aires: Signo, 2001, p. 223, 225-7, 250-1.
53 FORNET-BETANCOURT, Raúl. Transformación intercultural de la filosofia. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001. p. 185.
54 FORNET-BETANCOURT, Raúl. Op. cit., p. 187.
55 Idem, ibidem, p. 188.
56 Ver, neste sentido: MIGNOLO, Walter. The many faces... , p. 12-15; BAXI, Upendra. The future of human rights. Oxford: Oxford University, 2006; SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. IN: Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 427-461.
57 MACAS, Luis. Dialogo de culturas: hacia el reconocimiento del otro. Disponível em: http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/2/macas.html
58 TUTU, Desmond. God has a dream: a vision of hope for our time. Parktown: Random House South Africa, 2005, p. 25-29.
59 SIVARAKSA, Sulak. A socially engaged buddhism. Bangkok: Thai Inter-Religious Commission for Development, 1988; YUK, Ip Hong. Trans thai buddism and envisioning resistance: the engaged Buddhism of Sulak Sivaraksa. Bangkok: Suksit Siam, june 2004.
60 OISHI, Mikio. Aung San Suu Kyi's struggle: its principles and strategy. Penang: JUST, 1997, em especial p. 7-25; KYI, Aung San Suu. Heavenly abodes and human development. IN: CHAPPELL, David (ed). Socially engaged spirituality: essays in honor of Sulak Sivaksa on his 70th birthday. Bangkok: Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, 2003, p. 633-643. Disponível, também, em: http://www.burmainfo.org/assk/DASSK_1997_HeavenlyAbodesHumanDevelopment…
61 WEIMING, Tu. Os direitos humanos como um discurso moral confuciano. IN: BALDI, César Augusto ( org). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 359-375.
62 PANIKKAR, Raimundo. Seria a noção de direitos humanos uma concepção ocidental? IN: BALDI, op. cit., p. 239-277.
63 SHARMA, Arvind. Hinduism and human rights- a conceptual approach. New York: Oxford University, 2004.
64 RAO, Anupama ( ed). Gender & caste. London & New York: Zed Books, 2003
65 SHIVA, Vandana. Earth democracy: justice, sustainability and peace. Cambridge: South End, 2005, em especial p. 109-143.
66 ESACK, Farid. The contemporary democracy and the human rights project for muslim societies. IN: SAID, Abdul Aziz, ABU-NIMER, Mohammed, SHARIF-FUNK, Meena. Contemporary Islam: dynamic, not static. London: Routledge, 2006, p. 126-127; COSTA, Sergio. Beyond North South Dichotomies: decentering Human Rights in Americas. Disponível em: http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/construire_costa.pdf p. 13-14.
* Mestre em Direito (ULBRA/RS), especialista em Direito Político (UNISINOS). Acessor da presidência do TRF / 4ª região